|
|
ABERTURA EXTERNA BRASILEIRA E SEUS IMPACTOS AO LONGO DA DÉCADA DE 90
O processo de abertura comercial e liberalização financeira que caracterizou a estratégia de inserção internacional do país na última década não produziu os efeitos propalados por análises teóricas convencionais e ideólogos dessa estratégia.
De fato, houve um sucesso inconteste no controle inflacionário, como visto anteriormente, quando os índices, que apontavam um patamar de quatro dígitos em 1994, passaram a apresentar dois dígitos em 1995 e apenas um em 1996. A obtenção de superávits nas contas públicas, ainda que apenas no conceito primário, também foi uma meta alcançada com relativo sucesso, dentro do componente de estabilização da estratégia implementada.
Entretanto, observando-se a tabela 1, é indiscutível o caráter pífio dos resultados em termos de crescimento econômico, acumulação de capital e geração de emprego.
Tabela 1 - Indicadores Macroeconômicos do Brasil (1989-2000)
|
|
Taxa de crescimento |
Taxa de crescimento per capita |
Investimento (% PIB)1 |
Taxa de crescimento da FBKF2 |
Taxa de desemprego3 |
|
1989 |
3,2 |
1,4 |
- |
- |
3,3 |
|
1990 |
-4,4 |
-5,5 |
- |
- |
4,3 |
|
1991 |
1,0 |
-0,6 |
15,2 |
-1,8 |
4,8 |
|
1992 |
-0,5 |
-2,1 |
14,0 |
-8,6 |
5,7 |
|
1993 |
4,9 |
3,4 |
14,4 |
7,2 |
5,3 |
|
1994 |
5,9 |
4,3 |
15,2 |
12,5 |
5,1 |
|
1995 |
4,2 |
2,8 |
16,7 |
13,7 |
4,6 |
|
1996 |
2,7 |
1,2 |
16,5 |
2,5 |
5,4 |
|
1997 |
3,3 |
1,9 |
17,9 |
12,4 |
5,7 |
|
1998 |
0,2 |
-1,1 |
17,5 |
-1,8 |
7,6 |
|
1999 |
0,5 |
-0,5 |
16,1 |
-7,0 |
7,6 |
|
2000 |
4,4 |
3,1 |
15,7 |
nd |
7,1 |
1-preços de 1980.
2-formação bruta de capital fixo.
3-médias anuais pela PME do IBGE.
Fonte: Banco Central, IBGE e IPEADATA.
Entre 1990 e 1999, a taxa média de crescimento da economia foi de 1,78% ao ano, enquanto que a taxa média em termos per capita atingiu menos de 0,38% ao ano. Se comparado com o período da década de 80, a década perdida, quando a economia brasileira cresceu em média 2,2% ao ano, não seria exagero considerar os anos 90 como a década mais do que perdida. A taxa média de investimento no período 1991-2000 foi de 15,9% do PIB, aos preços de 1980, inferior aos 17,7% médios dos anos 80. Não bastasse essa redução, a composição da taxa de investimento “mostra sensível piora, pois o peso dos bens de capital caiu de 34% em 1990 para cerca de 25% em 1996-1997, aumentando o da construção” (Cano, 2000: 266).
Em termos dos setores produtivos, Cano (2000: 271-274) ainda estima que a taxa média anual de crescimento do setor agropecuário entre 1989 e 1998 foi de 2,1%, mantendo sua participação relativa no PIB em 7,6%. Já a indústria de transformação teve o pior desempenho setorial. Sua taxa média anual de crescimento foi de 0,2%, pior do que os 0,9% da década de 80. A participação deste setor no PIB caiu para 20%, algo similar ao observado ainda na primeira metade da década de 50.
As taxas oficias de desemprego, por sua vez, mais do que duplicaram durante a década de 90, saindo dos 3,3% da PEA (população economicamente ativa) em 1989 para 7,6% em 1999.
No setor externo, apesar do crescimento no volume de exportações , a situação tampouco foi animadora. Cano (2000: 270) constata que a pauta exportadora em 1989 era composta de 27,9% em produtos básicos, 14,5% em semi-manufaturados e 56,8% em manifaturados. Em 1997, essa composição já era, respectivamente, de 27,3%, 16% e 55%. Em relação à pauta importadora, os bens de consumo representavam 14,2% do total em 1989, os bens intermediários 35,3%, e os bens de capital 26,5%. Durante os anos 90, “enquanto estas últimas triplicaram em valor, as de bens de consumo e de intermediários quadruplicaram, colaborando com isso para o debilitamento e desestruturação de parte da agricultura e da indústria nacional” (Cano, 2000: 270)[1].
Mas, afinal, de que forma a estratégia de inserção internacional passiva, respaldada no processo de abertura externa, conseguiu atingir tão medíocre desempenho?
4.1- A VULNERABILIDADE EXTERNA COMO RESTRIÇÃO AO CRESCIMENTO
A própria montagem e execução da abertura comercial e financeira, aliadas à sobrevalorização cambial que caracterizou a segunda metade da década, criaram armadilhas e restrições que impediram o crescimento econômico do país.
O incentivo ao aumento das importações, por conta tanto da abertura comercial como da valorização do câmbio, e o ritmo lento de crescimento das exportações provocaram um substancial déficit comercial. Isso, aliado a um déficit histórico na balança de serviços, agravado pelo aumento das remessas de lucros e dividendos e do pagamento de juros, levou a consideráveis déficits em transações correntes (tabelas 2 e 3). A forma encontrada para financiamento dos déficits externos foi a atração dos capitais forâneos. Para tanto, ampliou-se a taxa de juros doméstica acima da internacional, em níveis que incrementassem a atração de capitais (diretos e de portfolio), o que definiu uma extrema dependência da economia brasileira frente aos movimentos erráticos do capital financeiro internacional, além dos crescentes empréstimos externos também contratados (gráfico 1).
Tabela 2 - Balanço de Pagamentos do Brasil em US$ bilhões: contas selecionadas (1989-1994)
|
Conta \ Ano |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
|
Balança Comercial - Exportações - Importações |
16,1 34,4 18,3 |
10,7 31,4 20,7 |
10,6 31,6 21 |
15,3 35,9 20,6 |
12,9 38,6 25,7 |
10,4 43,5 33,1 |
|
Balança de Serviços - Lucros e dividendos - Juros líquidos - Outros |
-14,8 -2,4 -9,6 -2,8 |
-15,3 -1,6 -9,7 -4,0 |
-13,5 -0,6 -8,6 -4,3 |
-11,3 -0,5 -7,3 -3,5 |
-15,5 -1,8 -8,2 -5,5 |
-14,7 -2,5 -6,3 -5,9 |
|
Saldo em transações correntes |
1,5 |
-3,8 |
-1,4 |
6,1 |
-0,6 |
-1,7 |
|
Movimento de capital - Empréstimos - Investimento de portfolio líquido - Investimento direto estrangeiro líquido - Amortizações pagas e refinanciadas |
-4,1 1,9 0,7 0,1 -14,5 |
-4,7 -0,3 0,1 0,3 -8,6 |
-4,1 0,9 0,5 0,5 -7,8 |
25,2 17,5 1,7 1,1 -8,5 |
10,1 11,6 6,6 0,4 -9,9 |
14,3 53,8 5,0 1,9 -50,4 |
|
Saldo do balanço de pagamentos |
-3,4 |
-8,8 |
-4,6 |
30,0 |
8,4 |
12,9 |
Fonte: Boletim do Banco Central.
Tabela 3 - Balanço de Pagamentos do Brasil em US$ bilhões: contas selecionadas (1995-2000)
|
Conta \ Ano |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
|
Balança Comercial - Exportações - Importações |
-3,2 46,5 49,7 |
-5,6 47,7 53,3 |
-8,4 53 61,4 |
-6,5 51,1 57,6 |
-1,2 48 49,2 |
-0,6 55,1 55,7 |
|
Balança de Serviços - Lucros e dividendos - Juros líquidos - Outros |
-18,6 -2,6 -8,2 -7,8 |
-21,7 -2,3 -9,8 -9,6 |
-26,9 -5,6 -10,4 -10,6 |
-30,3 -7,1 -11,9 -11,3 |
-25,2 -4,0 -15,2 -6,0 |
-25,4 -3,3 -14,6 -7,5 |
|
Saldo em transações correntes |
-17,8 |
-24,3 |
-32,4 |
-34,1 |
-25,4 |
-24,3 |
|
Movimento de capital - Empréstimos - Investimento de portfolio líquido - Investimento direto estrangeiro líquido - Amortizações pagas e refinanciadas |
30,9 33,5 4,7 2,9 -11 |
34,2 22,8 6,1 9,2 -14,4 |
26 28,8 5,3 16,2 -28,7 |
15,9 41,6 -1,8 23,7 -33,5 |
13,9 28 3,8 26,9 -42,4 |
19 -8,7 6,9 30,5 -25,8 |
|
Saldo do balanço de pagamentos |
13,5 |
9 |
-7,8 |
-17,2 |
-7,8 |
-2,2 |
Fonte: Boletim do Banco Central.
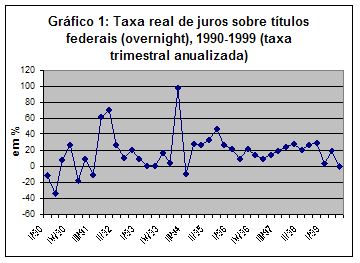 |
Fonte: Boletim do Banco Central.
A dependência extrema em relação aos capitais externos em um mundo de forte instabilidade do sistema financeiro internacional, e a baixa capacidade de resistência da economia brasileira frente a choques externos, definiam, respectivamente, uma fragilidade e uma vulnerabilidade externas, responsáveis pela restrição ao crescimento econômico que caracterizou a década.
Além da restrição externa estrutural, a abertura comercial e financeira criou uma armadilha financeira nas contas externas (Tavares, 1997 e Gonçalves, 1997). Os crescentes déficits em transações correntes, agravados pelo efeito da sobrevalorização cambial sobre o saldo comercial e por outras contas como gastos em viagens internacionais, foram financiados pela maior entrada de capital externo, na forma de endividamento ou de investimento externo. Isso provocou o aumento do passivo externo (dívida e estoque de capital) o que, em um segundo momento, foi traduzido em elevação do déficit na conta de serviços (pagamento de juros e remessa de lucros e dividendos) e, conseqüentemente, do déficit em transações correntes. A armadilha financeira nas contas externas manifestou-se assim em um endividamento externo crescente, tanto pelo crescimento da dívida, como pelo aumento do passivo externo, por conta do círculo vicioso de realimentação financiamento externo – déficits crescentes.
O déficit externo crônico definiu uma obrigação de manter elevadas as taxas domésticas de juros, provocando o “engessamento” da política monetária. Por outro lado, a obrigatoriedade de manter as altas taxas de juros construiu, ainda, uma armadilha fiscal. As altas taxas de juros representaram a elevação dos custos de rolagem da dívida pública, levando à explosão do seu serviço. Dado o compromisso de estabilidade monetária, o governo ainda se viu obrigado a esterilizar o efeito expansionista da entrada de capital externo sobre a oferta monetária, o que terminou por elevar o volume da dívida pública[2]. Apresentaram-se duas opções não excludentes. Ou o governo financiava o endividamento público crescente emitindo novos títulos públicos, em um processo de rolagem, ou promovia fortes processos de ajuste fiscal, incluindo elevação de receitas, cortes nos gastos e ampliação do programa de privatizações. Constituía-se assim o “engessamento” da política fiscal.
A vulnerabilidade externa ainda provocou outra armadilha no que diz respeito ao crescimento econômico. A estratégia de abertura, potencializada pelos efeitos da sobrevalorização cambial da segunda metade da década, levou a um processo de stop and go na trajetória de crescimento do país[3]. Qualquer melhora conjuntural que elevasse a renda nacional provocaria aumento da demanda por importações, agravando o déficit em transações correntes e definindo a necessidade de reduzir esse nível de renda. A variável-chave para isso sempre foi a taxa de juros que, mantida em níveis elevados, conseguiu não só reduzir o nível de renda a patamares condizentes com a restrição externa, mas também manter o fluxo positivo de capitais externos.
A vulnerabilidade externa se manifestou assim, ao longo da década de 90, através de crescentes endividamentos externo e interno, e na incapacidade recorrente que a economia brasileira demonstrou em crescer de forma sustentada. É justamente da inviabilidade estrutural externa e interna, e das manifestações conjunturais da restrição externa ao crescimento que se passa a tratar.
4.1.1-Inviabilidade estrutural externa
O crescimento da dívida externa nos anos 90 é nítido nas tabelas 4 e 5, passando de um total de US$ 115,5 bilhões em 1989 para US$ 241,2 bilhões dez anos depois, um aumento de quase 109% na década. Os gastos com o serviço dessa dívida também mostraram um crescimento considerável de US$ 24 bilhões no final da década de 80 para US$ 62,8 bilhões ao término da década passada. Deve-se ressaltar, entretanto, que o serviço da dívida externa experimentou certo recuo no início da década de 90, muito por causa da renegociação da dívida externa nos moldes do Plano Brady encerrada em 1994. A partir desse momento, a trajetória de crescimento do serviço da dívida acompanhou a elevação do endividamento do país.
Tabela 4 - Dívida Externa: Estoque e Composição em US$ bilhões (1989-1994)
|
|
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
|
Dívida externa total |
115,5 |
123,4 |
123,9 |
135,9 |
145,7 |
148,3 |
|
Dívida externa privada |
31,5 |
28,7 |
29,2 |
42,5 |
55,1 |
60,9 |
|
Dívida externa pública |
84 |
94,6 |
94,6 |
93,4 |
90,6 |
87,3 |
|
Total de curto prazo |
16,2 |
26,8 |
30,9 |
25,1 |
31,4 |
28,6 |
|
Total de médio e longo prazo |
99,2 |
96,5 |
93 |
110,8 |
114,2 |
119,6 |
|
Dívida Externa líquida |
105,8 |
113,5 |
114,5 |
112,2 |
113,5 |
109,5 |
|
Serviço da dívida |
24,1 |
18,9 |
17,3 |
15,4 |
18,6 |
19,1 |
Fonte: Boletim do Banco Central.
Tabela 5 - Dívida Externa: Estoque e Composição em US$ bilhões (1995-2000)
|
|
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
|
Dívida externa total |
159,2 |
179,9 |
200 |
234,7 |
241,2 |
236,1 |
|
Dívida externa privada |
71,8 |
95,6 |
123,7 |
139,8 |
141,2 |
125,5 |
|
Dívida externa pública |
87,4 |
84,3 |
76,2 |
94,9 |
100 |
110,6 |
|
Total de curto prazo |
29,9 |
37,7 |
36,7 |
24 |
28,6 |
29,9 |
|
Total de médio e longo prazo |
129,3 |
142,1 |
163,2 |
210,6 |
212,6 |
206,2 |
|
Dívida Externa líquida |
107,4 |
119,8 |
147,8 |
197,2 |
204,7 |
203,1 |
|
Serviço da dívida |
21,6 |
27,2 |
43,2 |
49,5 |
62,8 |
40,4 |
Fonte: Boletim do Banco Central.
Quanto à composição dessa dívida externa é importante salientar dois aspectos. Em primeiro lugar, a maior participação da dívida de médio e longo prazo, em relação aos vencimentos de curto prazo, sempre esteve presente. Este perfil mais alongado da dívida externa permitiu a contínua rolagem do endividamento, em que pese o vultoso crescimento de seu estoque e de seu serviço. Em segundo lugar, na segunda metade da década de 90, a parcela privada da dívida passa a superar a parcela pública, representando 58,5% do total em 1999, quando em 1989 representava apenas 27,3%[4].
A inviabilidade estrutural externa da estratégia brasileira de abertura nos anos 90 pode ser observada, além do endividamento externo crescente, através de indicadores de vulnerabilidade externa apresentados nas tabelas 6 e 7.
Tabela 6 - Indicadores de Vulnerabilidade Externa (1989-1994)
|
Indicador |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
|
Dívida externa total / exportações |
3,35 |
3,93 |
3,92 |
3,78 |
3,77 |
3,41 |
|
Dívida externa líquida / exportações |
3,3 |
3,6 |
3,6 |
3,1 |
2,9 |
2,5 |
|
Dívida externa total / PIB (%) |
27,7 |
27,6 |
32 |
36,3 |
33,8 |
27,3 |
|
Dívida externa líquida / PIB (%) |
25,4 |
25,4 |
29,6 |
29,9 |
26,3 |
20,1 |
|
Serviço da dívida / exportações |
0,7 |
0,6 |
0,54 |
0,43 |
0,48 |
0,44 |
|
Serviço da dívida / PIB (%) |
5,8 |
4,2 |
4,5 |
4,1 |
4,3 |
3,5 |
|
Pagamento de juros / exportações |
0,28 |
0,3 |
0,27 |
0,2 |
0,21 |
0,14 |
|
Pagamento de juros / PIB (%) |
23,0 |
21,7 |
22,2 |
19,5 |
19 |
11,6 |
|
Reservas internacionais / dívida total |
0,08 |
0,08 |
0,07 |
0,17 |
0,22 |
0,26 |
|
Reservas internacionais / serviço da dívida |
0,4 |
0,53 |
0,54 |
1,54 |
1,7 |
1,7 |
|
Reservas internacionais / juros pagos |
1,01 |
1,03 |
1,09 |
3,26 |
3,92 |
6,15 |
|
Saldo em conta corrente (% PIB) |
0,25 |
-0,81 |
-0,35 |
1,59 |
-0,14 |
-0,31 |
|
Saldo em conta corrente / exportações |
4,3 |
-12,1 |
-4,4 |
16,9 |
-1,5 |
-3,9 |
|
Reservas internacionais / exportações |
28,2 |
31,8 |
29,7 |
66,3 |
83,4 |
89,1 |
Fonte: Boletim do Banco Central.
O que os indicadores de vulnerabilidade[5] indicam para o Brasil é que o período analisado deve ser decomposto em dois momentos: o primeiro até a virada 1994/95 e o segundo a partir desse momento até o final da década. Isto se justifica, principalmente, pelos efeitos da renegociação da dívida externa e pela grande entrada de capitais externos, que provocaram um forte crescimento das reservas internacionais, no contexto da liberalização financeira externa. O que ocorreu após a assinatura do acordo de renegociação da dívida foi uma grande amortização da mesma, que se traduziu em valores muito elevados para indicadores como serviço da dívida sobre exportações, serviço da dívida sobre PIB e serviço da dívida como proporção das reservas internacionais.
Tabela 7 - Indicadores de Vulnerabilidade Externa (1995-2000)
|
Indicador |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
|
Dívida externa total / exportações |
3,42 |
3,77 |
3,77 |
3,8 |
4,7 |
5,0 |
|
Dívida externa líquida / exportações |
2,0 |
2,1 |
2,5 |
3,6 |
4,0 |
3,5 |
|
Dívida externa total / PIB (%) |
22,5 |
23,2 |
24,8 |
29,8 |
30,4 |
29,7 |
|
Dívida externa líquida / PIB (%) |
18,5 |
18,1 |
18,3 |
25 |
25,7 |
25,5 |
|
Serviço da dívida / exportações |
0,46 |
0,57 |
0,81 |
0,97 |
1,3 |
0,73 |
|
Serviço da dívida / PIB (%) |
3,0 |
3,5 |
5,3 |
6,2 |
7,9 |
6,8 |
|
Pagamento de juros / exportações |
0,17 |
0,20 |
0,19 |
0,23 |
0,31 |
0,27 |
|
Pagamento de juros / PIB (%) |
11,6 |
12,6 |
12,8 |
15,1 |
19,1 |
18,3 |
|
Reservas internacionais / dívida total |
0,32 |
0,33 |
0,26 |
0,19 |
0,15 |
0,14 |
|
Reservas internacionais / serviço da dívida |
2,4 |
2,2 |
1,2 |
0,9 |
0,57 |
0,8 |
|
Reservas internacionais / juros pagos |
6,31 |
6,13 |
5,02 |
3,74 |
2,38 |
2,26 |
|
Saldo em conta corrente (% PIB) |
-2,55 |
-2,98 |
-3,86 |
-4,33 |
-4,38 |
-4,13 |
|
Saldo em conta corrente / exportações |
-38,2 |
-50,9 |
-61,1 |
-66,7 |
-52,5 |
-46,1 |
|
Reservas internacionais / exportações |
111 |
125 |
98 |
87 |
75 |
59 |
Fonte: Boletim do Banco Central.
Dos 14 indicadores selecionados, 8 apresentaram uma piora constante ao longo de toda a década. Os outros 6 (ligados ao serviço da dívida e às reservas internacionais) mostraram uma certa melhora na primeira metade da década pelas razões expostas acima. Com a progressiva entrada de capital externo e o conseqüente acúmulo de reservas, os indicadores que incluem as reservas internacionais sofrem uma mudança significativa. A proporção dos juros líquidos sobre as reservas cai de 1,1% no início de 1991 para 0,5% um ano depois. No mesmo sentido, tem-se que as reservas internacionais correspondiam a 9,4% da dívida externa no primeiro trimestre de 1991, e no final de 1992 equivaliam a 17,5%[6].
Entretanto, a partir de 1995, todos os 14 indicadores demonstram um aumento da vulnerabilidade das contas externas. Como exemplos significativos destacam-se: (i) o serviço da dívida sobre exportações passou de 42,2% no segundo trimestre de 1995 para 130% no final de 1999; (ii) as reservas sobre a dívida externa total, que chegaram a 32% no final de 1995, atingem 14% ao final de 2000; (iii) a dívida externa total sobre exportações cresce de 3,4 no início de 1996 para 5 ao final de 2000 – isto significa que seriam necessários 5 anos, naquele instante, para pagar a dívida externa com os recursos obtidos das exportações, no montante observado naquele momento; e (iv) os juros líquidos correspondiam a 16% das reservas no final de 1995 e atingem 45% no final de 2000.
Deve-se ressaltar também a piora constante a partir de 1993 do déficit em transações correntes como proporção do PIB, que atingiu 4,38% em 1999, indicando a crescente necessidade de financiamento externo.
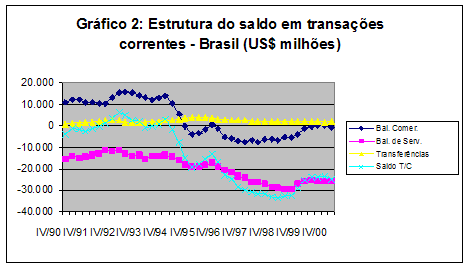 |
Fonte: Boletim do Banco Central.
Observando o gráfico 2, percebe-se duas características fundamentais na estrutura do saldo em transações correntes no Brasil. A primeira é a reversão do saldo da balança comercial do início da década de 90 de algo em torno de US$ 10 bilhões para um déficit de US$ 600 milhões no final de 2000, déficit este que chegou a US$ 8,4 bilhões em 1997. Esta trajetória ocorreu por causa do maior crescimento das importações em relação às exportações. A segunda é a elevação do déficit do balanço de serviços que sai de US$ 15,3 bilhões no final de 1990 para US$ 25,4 bilhões ao final de 2000. Isto foi provocado, principalmente, pelo crescimento das remessas de lucros e dividendos e dos pagamentos de fretes e seguros. O saldo em transações correntes que, em alguns períodos do início da década chegou a ser positivo, atinge um déficit de US$ 24,3 bilhões no final de 2000.
O déficit estrutural nas contas externas reflete uma rigidez oriunda de desequilíbrios de estoque, isto é, do considerável aumento do estoque da dívida externa e do estoque de capital estrangeiro, sob a forma de investimento direto ou de portfolio. Dessa forma, o crescimento do passivo externo (dívida externa mais estoque de capital estrangeiro) tende a provocar a elevação do serviço desse passivo (serviço da dívida externa mais remessa de lucros e dividendos) que, por sua vez, leva ao estrangulamento externo[7], e estabelece um caráter mais rígido aos déficits externos, na medida em que os torna mais insensíveis a alterações de preços relativos expressos na taxa de câmbio. Assim, “com o crescente passivo externo, a política cambial perde cada vez mais eficácia ... Nesse sentido, o governo tornou-se refém da tirania da taxa de juros para tentar ajustar as contas externas” (Gonçalves, 2002: 182).
Ano |
Dívida Externa Total |
Investimento direto estrangeiro |
Investimento de portfolio |
Passivo Externo Total |
Ativos Externos* |
Passivo Externo Líquido |
|
1989 |
115,5 |
27,2 |
8,7 |
151,4 |
21,7 |
129,7 |
|
1990 |
123,4 |
27,9 |
8,9 |
160,2 |
22,2 |
138 |
|
1991 |
123,9 |
28,6 |
9,5 |
162 |
21,4 |
140,6 |
|
1992 |
135,9 |
29,9 |
11,2 |
177 |
39,9 |
137,1 |
|
1993 |
145,7 |
37,7 |
17,9 |
201,3 |
50,8 |
150,5 |
|
1994 |
148,3 |
39,9 |
25,2 |
213,4 |
64,2 |
149,2 |
|
1995 |
159,2 |
44,5 |
24,2 |
227,9 |
71,1 |
156,8 |
|
1996 |
179,9 |
54,4 |
41,2 |
275,5 |
83,6 |
191,9 |
|
1997 |
200 |
71,5 |
55,6 |
327,1 |
74,9 |
252,2 |
|
1998 |
234,7 |
90 |
30 |
354,7 |
67,5 |
287,2 |
|
1999 |
241,2 |
119 |
33 |
393,2 |
54,7 |
338,5 |
|
2000 |
236,1 |
152 |
42 |
430,1 |
46,5 |
383,6 |
*inclui as reservas internacionais, os investimentos brasileiros no exterior, os haveres externos nos bancos comerciais e os créditos brasileiros no exterior.
Fonte: Boletim do Banco Central.
A tabela 8 mostra a evolução do estoque do passivo externo brasileiro ao longo da década de 90. Evidencia-se que o passivo externo brasileiro cresceu 184% entre 1989 e 2000, tanto por causa do endividamento externo crescente, como pela entrada de capital externo, substancial no período, que redundou em um forte aumento do estoque de capital externo no país. Considerando o passivo externo líquido (descontando o valor dos ativos externos), esse crescimento foi maior ainda. Se o estoque do passivo externo líquido era de US$ 129,7 bilhões em 1989, ele passou para US$ 383,6 em 2000, definindo uma taxa de crescimento de 195,7% no período. Isto se deveu ao menor ritmo de crescimento dos ativos externos brasileiros em relação ao do passivo externo total.
|
|
Juros |
Amortizações pagas |
Serviço da dívida externa |
Lucros e dividendos |
Serviço do passivo externo |
|
1989 |
9,6 |
14,5 |
24,1 |
2,4 |
26,5 |
|
1990 |
9,7 |
8,6 |
18,3 |
1,6 |
19,9 |
|
1991 |
8,6 |
7,8 |
16,4 |
0,6 |
17 |
|
1992 |
7,3 |
8,5 |
15,8 |
0,5 |
16,3 |
|
1993 |
8,2 |
9,9 |
18 |
1,8 |
19,9 |
|
1994 |
6,3 |
11 |
17,3 |
2,5 |
19,8 |
|
1995 |
8,2 |
11 |
19,2 |
2,6 |
21,8 |
|
1996 |
9,8 |
14,4 |
24,2 |
2,3 |
26,5 |
|
1997 |
10,4 |
28,7 |
39,1 |
5,6 |
46,7 |
|
1998 |
11,9 |
33,5 |
45,4 |
7,1 |
52,5 |
|
1999 |
15,2 |
42,4 |
57,6 |
4,0 |
61,6 |
|
2000 |
14,6 |
25,8 |
40,4 |
3,3 |
43,7 |
Fonte: Boletim do Banco Central.
A tabela 9, por sua vez, apresenta a evolução do serviço do passivo externo ao longo dos anos 90. Enquanto este, em 1990, atingia US$ 19,9 bilhões, em 1999, ele já chegava a US$ 61,6 bilhões. O serviço do passivo externo apresentou uma redução até 1992, em razão da queda do serviço da dívida, mas cresceu a partir desse momento tanto pelo aumento deste serviço como o da remessa de lucros e dividendos.
As tabelas 10 e 11 apresentam os indicadores de vulnerabilidade externa relacionados ao passivo externo. O quadro geral também permite concluir a elevação dessa vulnerabilidade ao longo da década de 90.
Em termos específicos, deve-se ressaltar o aumento do passivo externo líquido como proporção do PIB de 30,9% em 1990 para 47,9% em 2000, e o serviço desse passivo que passa de 4,46% em 1990 para 7,76% em 1999. Quanto à composição do passivo, o estoque de investimento direto estrangeiro apresentou elevação tanto em relação ao PIB como em proporção ao total de investimento estrangeiro, o que costuma ser apresentado com algo exclusivamente positivo. Entretanto, algumas ressalvas devem ser feitas.
Tabela 10 - Indicadores de Vulnerabilidade em relação ao Passivo Externo (1989-1994)
|
Indicador \ Ano |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
|
Passivo externo líquido / exportações |
3,77 |
4,39 |
4,45 |
3,81 |
3,9 |
3,43 |
|
Passivo externo líquido / PIB (%) |
31,2 |
30,9 |
36,4 |
39,8 |
35 |
27,4 |
|
Estoque de investimento de portfolio (% do PIB) |
2,1 |
1,2 |
2,4 |
2,3 |
4,1 |
4,6 |
|
Estoque de investimento de portfolio (% do total de investimento) |
24,3 |
24,2 |
25 |
27,3 |
32 |
42,1 |
|
Estoque de Investimento direto estrangeiro (% PIB) |
6,5 |
6,25 |
7,4 |
8,0 |
8,7 |
7,3 |
|
Estoque de Investimento direto estrangeiro (% do total de investimento) |
75,7 |
75,8 |
75 |
72,7 |
68 |
57,9 |
|
Serviço do passivo externo (% das exportações) |
77 |
63,3 |
53,8 |
45,4 |
51,5 |
45,5 |
|
Serviço do passivo externo (% do PIB) |
6,37 |
4,46 |
4,4 |
4,35 |
4,62 |
3,64 |
|
Serviço do passivo externo / reservas internacionais |
2,73 |
2,01 |
1,8 |
0,68 |
0,62 |
0,51 |
Fonte: Boletim do Banco Central.
Tabela 11 - Indicadores de Vulnerabilidade em relação ao Passivo Externo (1995-2000)
|
Indicador \ Ano |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
|
Passivo externo líquido / exportações |
3,37 |
4,02 |
4,75 |
5,62 |
7,05 |
7,0 |
|
Passivo externo líquido / PIB (%) |
23,4 |
25,7 |
32,2 |
36,5 |
42,6 |
47,9 |
|
Estoque de investimento de portfolio (% do PIB) |
4,2 |
7,0 |
8,6 |
4,2 |
5,4 |
6,6 |
|
Estoque de investimento de portfolio (% do total de investimento) |
35,2 |
43,1 |
43,8 |
25 |
21,7 |
21,7 |
|
Estoque de Investimento direto estrangeiro (% PIB) |
7,8 |
8,8 |
10,7 |
12,6 |
19,4 |
22 |
|
Estoque de Investimento direto estrangeiro (% do total de investimento) |
64,8 |
56,9 |
56,2 |
75 |
78,3 |
78,3 |
|
Serviço do passivo externo (% das exportações) |
46,9 |
55,5 |
88,1 |
102,7 |
128,3 |
79,3 |
|
Serviço do passivo externo (% do PIB) |
3,3 |
3,4 |
5,78 |
6,66 |
7,76 |
5,7 |
|
Serviço do passivo externo / reservas internacionais |
0,42 |
0,44 |
0,9 |
1,17 |
1,71 |
1,32 |
Fonte: Boletim do Banco Central.
Inicialmente, o investimento direto estrangeiro “apresenta limitações como forma de financiamento estável, dada a sua própria natureza. Seus impactos negativos sobre o balanço de pagamentos (remessa de lucros e dividendos) tendem a ser diluídos ao longo do tempo, enquanto os impactos positivos são concentrados” (Laplane e Sarti, 1997: 146).
Em segundo lugar, o efeito deletério do investimento direto estrangeiro sobre as contas externas também faz-se sentir pelo fato de que a maciça entrada de capital estrangeiro no setor de serviços, especificamente nos de utilidade pública, não geram receitas de exportação, como ressaltado por Gonçalves (1999b: 194).
Finalmente, “o ‘investimento direto’ que tem aumentado, atraído pela entrega de nossas riquezas minerais e dos sistemas elétrico e de telecomunicações, representa apenas uma fração diminuta das nossas necessidades de financiamento externo e não contribui para elevar a taxa de investimento líquido da economia, já que se trata de mera transferência patrimonial” (Tavares, 1997: 105).
Dessa forma, a entrada de investimento externo não contribuiu para elevar a taxa de investimento da economia brasileira no período, que ficou em patamares inferiores aos da década passada, e ainda representou um enrijecimento e agravamento das contas externas na medida em que se refletiu em remessa de lucros e dividendos e/ou em saída conjuntural dos recursos, em face do caráter especulativo e de curto prazo de boa parte desse investimento externo.
O que os indicadores de vulnerabilidade externa aqui apresentados mostram é que, longe de constituírem problemas pontuais e passageiros, o déficit nas contas externas brasileiras possuíram um caráter muito mais rígido e estrutural.
4.1.2- Inviabilidade estrutural interna
A vulnerabilidade externa da economia brasileira também manifestou-se em um superendividamento público. Se a composição da dívida externa apresentou uma alteração na década de 90, tornando-se majoritariamente de caráter privado, a dívida pública no mesmo período mostrou-se explosiva, e esteve intimamente ligada ao quadro do endividamento externo.
Gonçalves e Pomar (2002: 50) ressaltam que “enquanto aumenta a dívida externa, os juros elevados pagos pelos títulos se constituem na principal causa do déficit público e, portanto, do próprio aumento da dívida pública interna, que cresce aceleradamente a partir de 1995”. O grande diferencial entre os juros internos e os externos, necessário para atrair os capitais externos que “fechavam” as contas externas, fez com que as empresas instaladas no país tomassem empréstimos em dólar para servirem de credores junto ao governo brasileiro. Assim, o crescimento da parcela privada da dívida externa está intimamente relacionada com a necessidade crescente de rolagem da dívida pública interna, acrescida tanto pelos juros altos como pela esterilização dos recursos externos ingressantes no país.
Afirma-se que a dívida líquida do setor público traduz mais claramente a posição financeira do setor público, já que desconta a posição credora do próprio Estado. A tabela 12 apresenta os dados referentes ao período 1994-2000. O crescimento da dívida líquida do setor público no período foi de 267%, sendo que a parcela correspondente à dívida interna passou de 71% do total para 80% entre 1994 e 2000. Isso se traduziu em um substancial aumento da dívida líquida total como proporção do PIB, de 30,4% em 1994 para 49,3% em 2000. Por sua vez, o crescimento da dívida líquida do governo federal e do Banco Central foi ainda maior, equivalendo a 436%. O gráfico 3 mostra a composição dessa dívida líquida do setor público ao longo de toda a década, evidenciando que foi a partir de 1992 que a parcela interna da dívida passou a superar a externa, exatamente o período em que o diferencial de juros internos passou a ser mais expressivo.
Como o superávit primário foi a característica dos anos 90, com exceção do período 1996/97, a explicação para esse crescimento da dívida pública só pode estar no crescimento dos gastos financeiros, isto é, pagamento de juros e amortização do principal, novos empréstimos, e acréscimo do principal por conta da rolagem da dívida, dos altos juros internos e de variações cambiais. De fato, os juros nominais pagos sobre a dívida mobiliária federal representavam 4,9% do PIB em 1994 e chegaram a 13,14% em 1999 (tabela 13). Por outro lado, a dívida mobiliária federal indexada ao câmbio representava 8,3% do total em 1994 e passou a 24,5% em 1999, 24,3% em 2000 e 28,62% em 2001.
Tabela 12 - Dívida Líquida do Setor Público em R$ bilhões (1994-2000)
|
|
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
|
Dívida líquida total - Dívida Interna - Dívida Externa |
153,2 108,8 44,4 |
208,5 170,3 38,1 |
269,2 237,6 31,6 |
308,4 269,8 38,6 |
385,9 328,7 57,2 |
516,6 407,8 108,8 |
563,2 451,8 111,3 |
|
Dívida líquida do governo federal e Banco Central |
65,8 |
90,4 |
128,4 |
167,7 |
231,3 |
316,2 |
353 |
|
Dívida líquida total (% do PIB) |
30,38 |
30,83 |
33,23 |
34,33 |
39,17 |
49,39 |
49,29 |
Fonte: Boletim do Banco Central do Brasil.
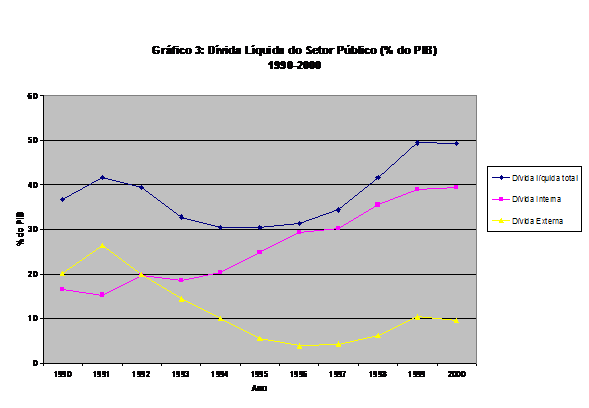
Fonte: Boletim do Banco Central.
Tabela 13 - Dívida Mobiliária Federal 1994-2000 (R$ bilhões)
|
|
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
|
Total - Responsabilidade do Tesouro -Responsabilidade do Banco Central |
61,7 35,2 26,5 |
108,4 59,1 49,3 |
176,2 93,1 83,1 |
254,5 189,3 65,2 |
323,9 219,2 104,7 |
414,9 311,3 103,5 |
516,1 396,1 120 |
|
Indexada ao câmbio |
5,1 |
5,8 |
16,6 |
39,2 |
68,0 |
101,6 |
125,4 |
|
Indexada ao câmbio (% do total) |
8,3 |
5,4 |
9,4 |
15,4 |
21,0 |
24,5 |
24,3 |
|
Juros nominais pagos |
24,7 |
48,7 |
45,1 |
44,4 |
72,5 |
127,2 |
87,4 |
|
Juros nominais pagos (% do PIB) |
4,9 |
7,5 |
5,8 |
5,14 |
8,07 |
13,14 |
8,8 |
Fonte: Boletim do Banco Central do Brasil.
Já a tabela 14 apresenta o pagamento de juros da dívida pública como proporção do PIB e do investimento total. Pode-se fazer duas conclusões a partir dessas informações. Em primeiro lugar, os encargos financeiros sobre a dívida pública foram crescentes entre 1990 e 1999. Em segundo lugar, uma parcela crescente de recursos foi destinada ao pagamento de juros da dívida pública, em relação ao que poderia ser gasto com investimentos.
Tabela 14 - Juro, Investimento e Crescimento, 1990-200 (%)
|
Ano \ Indicador |
Pagamento de juros da dívida pública / PIB |
Pagamento de juros da dívida pública / investimento |
|
1990 |
4,1 |
16,3 |
|
1991 |
1,9 |
8,3 |
|
1992 |
5,5 |
23,9 |
|
1993 |
3,0 |
12,4 |
|
1994 |
4,9 |
18,8 |
|
1995 |
7,5 |
25,4 |
|
1996 |
5,8 |
19,2 |
|
1997 |
5,1 |
17,1 |
|
1998 |
8,1 |
38,3 |
|
1999 |
13,1 |
33,3 |
|
2000 |
8,8 |
25,0 |
Fonte: Boletim do Banco Central.
O discurso oficial, além da tese contrafactual que apresenta os gastos públicos ordinários como principais responsáveis pelo crescimento da dívida pública, apresentou o discurso do plano de privatizações como a forma de reduzir o endividamento público. A receita auferida com as privatizações federais e estaduais, em um dos maiores programas de privatizações que se tem notícia na história da economia mundial, foi de US$ 87 bilhões. Esse valor é ridículo frente aos US$ 410 bilhões que eqüivalem ao crescimento absoluto da dívida líquida do setor público entre 1994 e 2000, e representam apenas 15% do valor total dessa dívida em 2000.
Na verdade, o crescimento da dívida pública não é tão grave quando decorre de investimentos em setores prioritários, do não pagamento de seus atrasados, e/ou é acompanhado de um crescimento da renda ao menos proporcionalmente. Entretanto, a experiência brasileira dos anos 90 mostra que a explosão da dívida pública não foi acompanhada nem de aumento de investimentos e muito menos de um crescimento econômico consistente, ao mesmo tempo em que os pagamentos dos seus encargos financeiros foram sempre honrados.
É dessa forma que o superendividamento público acompanha o déficit crônico das contas externas na constituição de uma inviabilidade estrutural que caracterizou a vulnerabilidade externa da economia brasileira nos anos 90.
4.1.3-Vulnerabilidade e evolução conjuntural
Em um estudo patrocinado pelo BID, Fernández-Arias e Montiel (1998: 115), depois de fazer uma exaltação às reformas estruturais neoliberais, se perguntaram: “por qué, entonces, América Latina no experimentó una aceleración más pronunciada de crecimiento en 1991-95?”. Poder-se-ia perfeitamente fazer uma extensão temporal da pergunta até os dias atuais.
A resposta não poderia ser mais risível! Segundo eles, para que o crescimento fosse mais acelerado seriam necessárias duas coisas: (i) aprofundar as reformas de acordo com as pautas já estipuladas; e (ii) aumentar a extensão das mesmas. Com maior intensidade e com um caráter mais extenso, a resposta estaria em uma maior dosagem do mesmo remédio[8].
O problema é que a implementação dessa terapia, ainda que em doses “homeopáticas”, ao menos para a concepção convencional, já provocou uma séria restrição externa ao crescimento. A necessidade crescente de financiamento externo para cobrir os déficits provocados pela abertura comercial e financeira, agravados pelo período de sobrevalorização cambial, “...direcionou o tempo todo a política de juros do Governo, que serviu para atrair capitais de curto prazo e, ao mesmo tempo, limitar o crescimento das atividades econômicas, como forma de reduzir as importações e, assim, diminuir o déficit da balança comercial” (Filgueiras, 2000: 168).
Assim, a vulnerabilidade externa, expressa nos desequilíbrios de fluxo (balanço de pagamentos e serviço do passivo externo) e de estoque (passivo externo), se refletiu em uma recorrente restrição externa ao crescimento econômico brasileiro na década de 90[9]. Essa incapacidade renitente de crescimento manifestou-se nas mais variadas conjunturas ao longo do período.
A inviabilidade estrutural externa e interna, que caracterizou a vulnerabilidade da economia brasileira nos anos 90, configurou restrições conjunturais, ligadas também a choques externos. Decididamente, esses choques não são as causas dos percalços e crises, mas simplesmente fatores detonadores/impulsionadores de uma restrição externa já configurada. Ao contrário do discurso oficial, que responsabiliza os choques externos pelo stop and go da economia brasileira, “ambas as questões (falta de crescimento e vulnerabilidade externa) envolvem uma dimensão de longo prazo, mas são determinadas por políticas de curto prazo e estratégias de longo prazo (e, portanto, por opções políticas)” (Gonçalves, 1997: 171).
A insuficiência no crescimento da capacidade instalada nos anos 90 também fez com que fosse impossibilitado qualquer crescimento da renda nacional (dadas as pressões inflacionárias), abortado também por causa dos impactos que este teria sobre as já deterioradas contas externas. A observação da evolução conjuntural dos indicadores de vulnerabilidade permite entender não só a trajetória dessa vulnerabilidade, mas também o caráter cíclico do stop and go da economia[10].
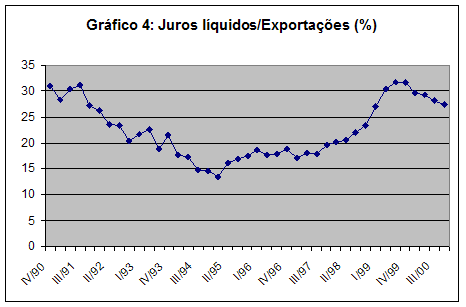 |
Fonte: Boletim do Banco Central.
A queda do indicador juros líquidos como proporção das exportações anuais para o Brasil, entre 1990 e 1994, que passa de 31% para 14,6%, deve-se tanto à elevação das exportações como à queda no pagamento de juros líquidos sobre a dívida externa. Desse momento em diante ocorreu uma reversão na trajetória do pagamento dos juros, que são crescentes até o final da década. Entre 1995 e 1998, as exportações continuaram crescendo, entretanto a um ritmo menor do que o pagamento de juros, o que fez com que o indicador subisse para 23,37% no último trimestre de 1998. Já no biênio 1999-2000, o indicador apresentou uma tendência à estabilização em torno dos 29%, principalmente, por conta da estabilidade no pagamento de juros líquidos anuais, por volta de US$ 15 bilhões.
Os gráficos 5 e 6 exibem o comportamento das dívidas externas total e líquida como proporções do PIB.
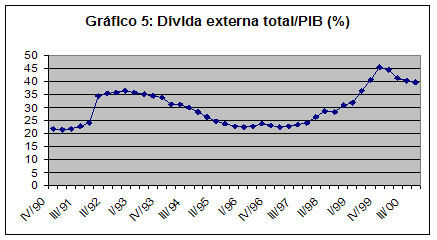 |
Fonte: Boletim do Banco Central.
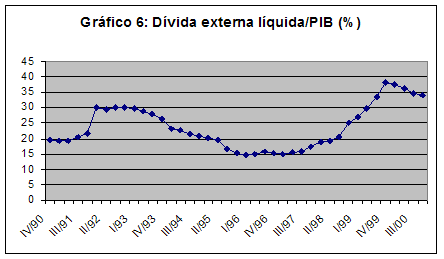 |
Fonte: Boletim do Banco Central.
Observando a trajetória desses indicadores para o Brasil, constata-se que eles cresceram entre o último trimestre de 1990 e 1992, o que ocorreu fundamentalmente por causa da recessão econômica do período, como efeito dos planos de estabilização do governo Collor, e da acentuada elevação no valor da dívida externa a partir de 1992. A dívida externa total brasileira passou de US$ 93 bilhões no final de 1991 para US$ 132 bilhões no primeiro trimestre do ano seguinte. Entre 1993 e 1997, os indicadores melhoraram em razão do maior crescimento do PIB em relação ao da dívida externa. A diferença de patamar entre os dois gráficos nesse período se explica em virtude do substancial crescimento das reservas internacionais, que passam de US$ 22 bilhões no início de 1993 para US$ 61,7 bilhões em meados de 1997, freando o crescimento da dívida externa líquida, em relação ao da dívida total. Com a deflagração da crise asiática, o período 1998-2000 mostrou uma elevação do indicador, não só por causa do crescimento do valor da dívida, mas também pela redução do PIB, em virtude da elevação das taxas domésticas de juros, medida tomada para conter o efeito contágio da crise asiática na saída de capitais externos[11].
A evolução da proporção das reservas internacionais na dívida externa total do Brasil acompanha nitidamente o efeito das crises cambiais ocorridas no México em fins de 1994, na Ásia em 1997, na Rússia em 1998, e no próprio Brasil no início do ano seguinte. A entrada de capital externo no país no início da década foi a principal responsável pelos saldos positivos no balanço de pagamentos e, portanto, no crescimento das reservas internacionais. Esse movimento só é revertido com a crise mexicana de 1994, retomando sua trajetória original já em meados de 1995. O acúmulo de reservas sofreu outro percalço no final de 1997, com a crise asiática, e no período 1998-1999, com as crises russa e brasileira.
 |
Fonte: Boletim do Banco Central.
Os gráficos 8 e 9 apresentam as dívidas externas total e líquida sobre o total de exportações anuais. O que estes indicadores mostram é o número de anos necessários para pagar a dívida externa com o volume de exportações obtido naquele período.
Estes indicadores, para o Brasil, mostram a piora ocorrida durante a década de 90. No primeiro trimestre de 1991, eram necessários 2,81 anos para pagar a dívida externa total com o volume de exportações obtido naquele momento, enquanto que para a dívida externa líquida eram necessários 2,5 anos. No último trimestre de 2000, esses números passaram para 4,3 e 3,71 anos respectivamente. Vale salientar que os indicadores apresentaram um maior crescimento no período pós-crise cambial de 1999. No terceiro trimestre de 1999, eram necessários 5,1 e 4,2 anos para pagar as dívidas externas total e líquida respectivamente.
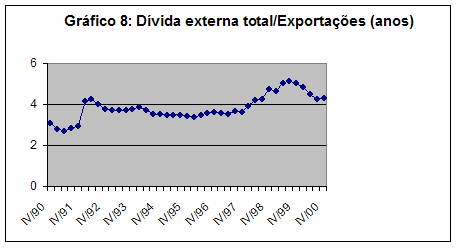
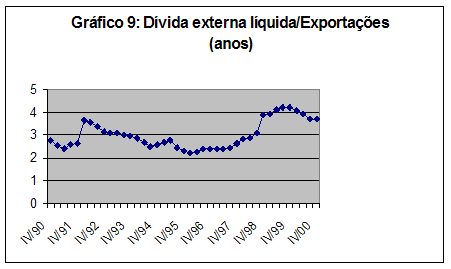 |
Fonte: Boletim do Banco Central.
Os gráficos 10 e 11 mostram, respectivamente, a participação percentual do serviço da dívida externa nas reservas internacionais para a segunda metade da década[12] e a participação percentual dos juros líquidos pagos sobre as reservas internacionais para a década de 90 como um todo.
O Brasil apresentou uma forte redução no serviço da dívida externa, como participação das reservas em 1995 por conta da redução das amortizações da dívida, uma vez que o pagamento de juros líquidos não foi reduzido no período. As amortizações anuais na virada de 1994 para 1995 atingiam US$ 50 bilhões, enquanto que nos três trimestres seguintes elas não passaram de US$ 11,5 bilhões em cada um deles. Os juros líquidos em termos anuais, por sua vez, chegaram a crescer de US$ 6 bilhões no primeiro trimestre de 1995 para US$ 8 bilhões no final do mesmo ano. O serviço da dívida como proporção das reservas ficou estável até a crise asiática. A partir das crises russa e brasileira, os dois indicadores cresceram, principalmente pelo esgotamento de reservas nos momentos mais críticos da crise cambial brasileira. Deve-se ressaltar que a grande diferença no valor absoluto entre o início da década de 90 e o final da mesma[13] se deve ao crescimento das reservas internacionais, em virtude da grande entrada de capital externo propiciada pelo processo de liberalização financeira externa no país.
 |
Fonte: Boletim do Banco Central.
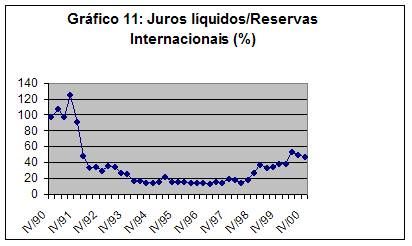 |
Fonte: Boletim do Banco Central.
Fonte: Boletim do Banco Central.
O gráfico 12 apresenta o tradicional indicador de vulnerabilidade externa que é o déficit em transações correntes como proporção do PIB.
A trajetória do indicador para o caso brasileiro é clara no sentido de que o déficit em transações correntes aparece após a implementação do Plano Real em 1994, chegando a corresponder a 2,9% do PIB no terceiro trimestre de 1995. Após uma leve melhora, no segundo semestre de 1996, em que atinge 1,8% do PIB, a trajetória de crescimento do déficit é retomada, atingindo o ápice no segundo trimestre de 1999 durante a crise cambial brasileira em 5% do PIB. No final de 2000, o déficit em transações correntes representava 4,1% do PIB.
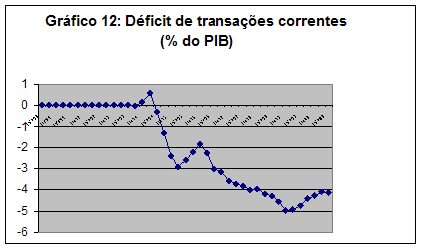 |
Fonte: Boletim do Banco Central.
O gráfico 13 apresenta a relação entre o serviço da dívida externa e as exportações para a segunda metade da década de 90, respeitando a ressalva feita para a análise do gráfico 7 com relação à periodicidade da série sobre o serviço da dívida.
Este indicador para o caso brasileiro começa com um nível alto de 130% no último trimestre de 1994 e primeiro do ano seguinte, em razão do elevado montante de amortizações do período, no contexto da renegociação da dívida externa nos moldes do Plano Brady. Desse momento até a crise da Ásia, o indicador é relativamente estável em torno de 43%. Nesse período, tanto juros líquidos quanto amortizações mantiveram suas trajetórias levemente ascendentes, mas foram compensados pelo crescimento das exportações. Com a crise da Ásia e, posteriormente da Rússia, observa-se que este indicador cresce atingindo 84,8% no terceiro trimestre de 1998, tendo em vista a elevação do serviço da dívida externa. O ápice deste movimento se dá no terceiro trimestre de 1999 com 136%, já dentro do quadro construído pela crise cambial brasileira. Em 2000, ocorre uma melhora, chegando a 90,4% no último trimestre do ano, uma proporção ainda elevada.
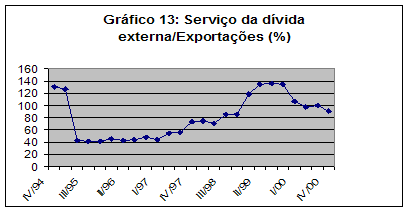 |
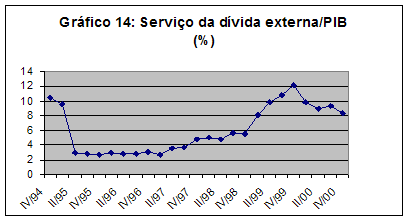 |
Fonte: Boletim do Banco Central.
O comportamento do serviço da dívida externa brasileira, como proporção do PIB, também sofre influência da forte amortização da dívida ocorrida em fins de 1994 e início de 1995. Além disso, ocorreu uma recuperação na atividade interna da economia em 1994 até o segundo trimestre de 1995, o que também se refletiu na melhora do indicador neste último trimestre. Esse indicador se manteve no nível de 3% até a crise asiática. Da mesma maneira que no indicador anterior, o serviço da dívida como proporção do PIB voltou a crescer durante a crise da Ásia (4,8% no último trimestre de 1997), aumentou seu ritmo de crescimento na crise russa (5,6% no terceiro trimestre de 1998) e, fundamentalmente, no processo da própria crise brasileira (12,2% no último trimestre de 1999). Deve-se ressaltar que, após a desvalorização cambial de 1999, o PIB brasileiro em dólares cai, reforçando a tendência apresentada pelo indicador. Em 2000, ocorreu uma melhora por causa da queda do serviço da dívida; no contexto da crise o serviço atingiu US$ 64,4 bilhões, em termos anuais, enquanto que no final de 2000 o serviço em termos anuais se reduziu para US$ 49, 8 bilhões.
4.1.4- As restrições conjunturais e a crise cambial
As sucessivas conjunturas pós-Plano Real durante a década de 90 podem ser divididas em cinco períodos, de acordo com Filgueiras (2000): (i) pós-Real e a euforia do consumo (07/94 a 03/95); (ii) crise do México e desaceleração (04/95 a 03/96); (iii) retomada da economia (04/96 a 06/97); (iv) novo período recessivo; e (v) o fim da âncora cambial.
Logo após a implantação do Real, a inflação mensal, medida pelo IGP-DI, foi reduzida de 46,6% em junho de 1994 para 3,34% dois meses depois. Experimentou-se também uma fase de rápido crescimento do consumo, produção e emprego. A aceleração do ritmo de crescimento das atividades produtivas pode ser percebida pelo crescimento de 3,11% no terceiro trimestre de 1994, em relação ao trimestre anterior, de 3,81% no último trimestre do ano, e de 1,25% no primeiro de 1995. Em relação ao mesmo período do ano anterior, o quarto trimestre de 1994 mostrou um crescimento de 9,85%, e o primeiro trimestre de 1995 de 9,54%.
Entretanto, a balança comercial já possuía saldo negativo desde novembro de 1994. Desse mês até março de 1995 esse déficit totalizou US$ 3,55 bilhões, sendo que apenas no período 01/95-03/95 ele somou US$ 2,83 bilhões. Em um primeiro momento, esse saldo negativo foi compensado pela forte entrada de capital externo e por uma redução das reservas internacionais em dólar, que saem de US$ 43 bilhões em julho de 1994 para US$ 38,2 bilhões no final desse ano.
A crise do México em dezembro de 1994 dá início a um período de fuga de capitais e de desaceleração econômica. As reservas cambiais atingem US$ 31,8 bilhões em abril de 1995, ao mesmo tempo em que o déficit em transações correntes no primeiro semestre desse ano chegava a 4,2% do PIB.
A partir de março de 1995, o governo implementou algumas medidas no sentido de desacelerar a economia, em uma clara manifestação da causalidade “restrição externa ® stop and go”, e de um certo recuo na abertura comercial. Além de um alargamento da banda cambial que permitisse um maior ritmo de desvalorização cambial, foram elevadas as alíquotas do imposto de importação (a tarifa média passou de 11,3% no final de 1994 para 13,9% um ano depois), estabelecidas quotas de importação para automóveis e fornecidos incentivos às exportações. Para conter a fuga de capitais, ocorreu uma retirada/diminuição do IOF sobre capital externo, o que elevou o grau de abertura financeira, e uma forte elevação das taxas domésticas de juros. A taxa nominal de juros chegou a 60% ao ano, a terceira maior do mundo, enquanto que a real atingiu 30% ao ano, a maior de toda a economia mundial.
Os resultados foram a volta do capital externo a partir de abril de 1995, sendo que as reservas internacionais fecharam esse ano em US$ 51,8 bilhões, e a obtenção de saldos comerciais positivos entre julho e novembro de 1995. Contudo, a desaceleração da economia fez com que, entre abril e setembro desse ano, em termos anualizados, a taxa de crescimento fosse de – 9,1%.
Vale salientar ainda que, nesse momento, configurou-se uma situação de fragilidade nas instituições financeiras nacionais, em muito debilitadas pela forte elevação das taxas de juros. A Resolução nº 2208 de 03/11/95 criou o Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (PROER), que resultou na liberação de cerca de R$ 21 bilhões como forma de, no jargão oficial, “reestruturar” o setor[14]. Isto talvez mostre que, na implementação das estratégias neoliberais, as leis do mercado livre nem sempre valem para todos os setores.
O primeiro semestre de 1996, em relação ao mesmo período do ano anterior, ainda mostrou uma taxa nula de crescimento e uma aceleração do desemprego (tabela 15).
|
Mês\Ano |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
|
Janeiro |
5,88 |
5,02 |
6,28 |
5,95 |
8,51 |
7,7 |
|
Fevereiro |
5,91 |
4,85 |
7,04 |
6,86 |
8,78 |
7,5 |
|
Março |
6,44 |
4,9 |
7,65 |
7,18 |
8,97 |
8,2 |
|
Abril |
5,49 |
4,56 |
7,09 |
7,09 |
8,56 |
8,0 |
|
Maio |
5,48 |
4,78 |
6,98 |
6,9 |
9,11 |
7,7 |
|
Junho |
5,9 |
5,1 |
7,19 |
7,05 |
8,57 |
7,8 |
|
Julho |
5,73 |
5,22 |
6,29 |
7,09 |
8,95 |
7,5 |
|
Agosto |
5,81 |
5,31 |
5,96 |
6,59 |
8,64 |
7,7 |
|
Setembro |
5,78 |
6,28 |
5,74 |
6,51 |
8,68 |
7,4 |
|
Outubro |
4,78 |
5,95 |
5,92 |
6,68 |
8,88 |
7,5 |
|
Novembro |
4,13 |
5,2 |
5,19 |
6,1 |
8,12 |
7,3 |
|
Dezembro |
3,61 |
5,09 |
4,06 |
5,18 |
7,26 |
6,3 |
Fonte: IBGE – PME, apud Filgueiras (2000: 146).
Os sinais de reaquecimento só aparecem no segundo semestre desse ano, com a redução gradual das taxas de juros, tendo em vista a relativa melhora das contas externas e a volta do capital externo. A taxa de crescimento da economia, que em 1996 fora de 2,7%, atinge 3,3% em 1997. Mais uma vez, entretanto, a crônica incapacidade de manter taxas sustentadas de crescimento se revelou[15]. Esse reaquecimento provocou um aumento na demanda por importações que, só no segundo semestre de 1996, originou um déficit comercial de US$ 5,5 bilhões, vis a vis um superávit de US$ 1 milhão no primeiro semestre. O financiamento dos déficits foi possibilitado por um acúmulo prévio de reservas internacionais na ordem de US$ 60 bilhões no final de 1996.
O novo período recessivo configurou-se plenamente com a eclosão da crise asiática no segundo semestre de 1997. A fuga de capitais no Brasil fez com que as reservas caíssem de US$ 63 bilhões em agosto de 1997 para US$ 52 bilhões quatro meses depois. Como enfrentamento da crise, o governo resolveu elevar novamente as taxas de juros, que atingem um valor nominal de 43% ao ano, e lançar um pacote fiscal composto por 51 itens, incluindo a demissão de 33 mil funcionários públicos sem estabilidade, a suspensão do reajuste salarial do funcionalismo, redução nos gastos e investimentos públicos, e a elevação de alíquotas de impostos e preços dos derivados de petróleo e álcool. A maioria das medidas do “pacote 51” não saiu do papel e as altas taxas de juros, ainda que tenham conseguido reverter o fluxo negativo de capitais, provocou a desaceleração da economia (crescimento de – 0,5% no quarto trimestre de 1997 e maiores taxas de desemprego ao longo de todo o ano de 1998 – tabela 15) e o brutal crescimento da dívida interna. No front externo, a redução do déficit na balança comercial não impediu que ele continuasse elevado, e a trajetória de crescimento da dívida externa e dos indicadores de vulnerabilidade foi acentuada.
A instabilidade dos mercados financeiros internacionais, frente à crise russa no segundo semestre de 1998, só piorou a situação. A resposta do governo na política econômica de administração conjuntural de um problema estrutural foi previsível. Além das rotineiras concessões de facilidades tributárias para o capital externo, a taxa básica de juros saiu de 19% ao ano para 29% e, logo depois, chegou a 49% ao ano.
Em outubro de 1998 é lançado outro pacote fiscal que incluía, ainda para aquele ano, a redução dos gastos orçamentários federais em 1,5% do PIB no quarto trimestre, a diminuição dos investimentos estatais em 0,3% do PIB também para o quarto trimestre, e a adoção de uma meta obrigatória para o superávit primário. Para o triênio 1999-2001 foi adotado um forte Programa de Estabilidade Fiscal composto por: (i) metas de superávit primário de 1,8% do PIB em 1999, 2% em 2000 e 2,3% em 2001; (ii) elevação do COFINS de 2% para 3%, 1/3 do qual com a possibilidade de desconto em imposto de renda; (iii) aumento da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) de 0,2% para 0,3%; e, (iv) acréscimo dos percentuais de contribuição para o plano de aposentadoria do setor público, incluindo a proposta de contribuição para servidores inativos[16].
Com a piora da situação, e na tentativa de se antecipar ao colapso cambial que se aproximava (o déficit em transações correntes chegou a 4,4% do PIB em outubro de 1998 e, em três meses, ocorreu uma redução de US$ 30 bilhões nas reservas internacionais), o governo fechou um acordo com o FMI no final de 1998. Os comprometimentos com o FMI, dentre outros, incluíam a manutenção do regime cambial, a continuação da abertura comercial, a aceleração das privatizações, a aprovação de reformas liberais, em especial no campo trabalhista, a manutenção do programa de ajuste fiscal por 3 anos (com metas de superávit primário e pagamento de juros), e o comprometimento de não implementar controles à saída de capital. O total do empréstimo externo acertado chegava a US$ 41,5 bilhões, dos quais US$ 18 bilhões do FMI em uma linha de crédito de emergência com prazo de 18 meses e juros de 7,25% ao ano para US$ 12,6 bilhões, e um financiamento stand by com carência de 5 anos e juros de 4,25% ao ano para US$ 5,4 bilhões.
Mesmo com a liberação da primeira parcela do acordo que totalizou US$ 9,324 bilhões, a fuga de capital continuou a ocorrer. A crise cambial avizinhava-se.
O quadro negativo já vinha sendo desenhado de antes, não só pelos sinais fornecidos pelos indicadores, mas também por que no segundo semestre de 1998 a perda de reservas, pelo conceito caixa, foi de US$ 35,7 bilhões, já na tentativa de controlar as cotações cambiais. Além disso, a credibilidade do país nos principais mercados financeiros já vinha caindo, o que foi sinalizado pela queda nos preços dos títulos do Tesouro lá negociados.
Em 13 de janeiro de 1999, a tentativa do governo de alargamento da banda cambial provocou uma desvalorização de 8,9% apenas nesse dia. Após sofrer uma perda substancial de reservas no dia seguinte, em 15 de janeiro, data em que a desvalorização atingiu 11,1% apenas naquele dia, o governo resolveu alterar o regime cambial, o que só foi formalizado no dia 18 do mesmo mês. Em poucos dias já se escrevia a pequena crônica de uma crise anunciada.
A crise cambial brasileira traduziu-se em uma desvalorização acumulada em janeiro daquele ano de 64,08%, e em uma perda de reservas de US$ 10,75 bilhões no primeiro trimestre do ano. A crise também obrigou o governo a alterar o regime cambial, supostamente para que a determinação do câmbio ficasse por conta do mercado. Entretanto, o Banco Central continua intervindo no mercado (vendendo reservas em dólares ou títulos com proteção cambial) para controlar a cotação. Isto não só para segurar a inflação, mas também para não explicitar uma situação de insolvência externa para os capitais internacionais.
Embora seja impossível prever a data exata de acontecimento de uma crise cambial como essa, a fragilidade e vulnerabilidade externas provocam a reversão das expectativas dos agentes e reduz a credibilidade do país. A crise cambial torna-se assim uma questão de tempo.
A alteração do regime cambial, com a conseqüente “correção” do “erro cambial”, poderia levar a visão crítico-conjuntural a prever melhores momentos para a economia brasileira. Entretanto, a dívida líquida do setor público continuou crescendo, chegando a R$ 563,2 bilhões em 2000, a dívida mobiliária federal atingiu R$ 624 bilhões em 2001, o saldo em transações correntes, como proporção do PIB, foi superior em 1999 (4,4%) ao de 1998 e, apesar de um certo recuo em 2000 (4,13% do PIB), continuou em um patamar superior ao de todo o período 1990-1997, o estoque do passivo externo continua crescendo, e o seu serviço ainda é bastante elevado (US$ 43,7 bilhões em 2000). A balança comercial só veio apresentar saldos positivos em 2001 e, mesmo assim, insuficientes para compensar a rigidez dos déficits na conta de serviços. Em suma, a inviabilidade estrutural externa e interna mostrou-se razoavelmente insensível à modificação do preço relativo expresso na taxa de câmbio. Do ponto de vista do endividamento público, em específico, a desvalorização cambial provocou o seu crescimento, tendo em vista a grande parcela da dívida que está indexada ao dólar (em junho de 2001, esse percentual era de 26,4% do total).
Em agosto de 2001, um novo acordo com o FMI foi acertado, em substituição ao de 1998. O montante acordado chegou a US$ 15 bilhões, sendo a primeira parcela de US$ 4,6 bilhões. Sobre 25% do total incidiria uma taxa de juros de 4,5% a 5% ao ano, e sobre o resto 7,5%. Para tanto, dever-se-ia cortar R$ 10,3 bilhões nos orçamentos de 2001 e 2002 (R$ 3,7 bilhões no primeiro ano e R$ 6,6 bilhões no segundo), e obter um superávit primário de 3,35% do PIB em 2001 e 3,5% no ano seguinte.
O que todas essas sucessivas conjunturas demonstraram é que, dada a restrição externa, e “como a capacidade instalada não cresce quanto deveria, qualquer movimento de crescimento do consumo é abortado através de medidas de restrição de crédito, elevação dos juros e aumento dos compulsórios, de forma que o crescimento se torna um subproduto, e não o objetivo principal da política econômica” (Lacerda, 1999: 115). Além disso, longe de corrigir o quadro de vulnerabilidade externa da economia brasileira, a desvalorização cambial de 1999 só mostrou o caráter rígido, estrutural, dos déficits externos, provocados pela estratégia de inserção passiva que caracterizou o período neoliberal dos anos 90.
4.2- IMPACTOS DISTRIBUTIVOS NOS ANOS 90
Não é de hoje que o perfil distributivo de renda no Brasil apresenta uma característica marcadamente concentrada, sendo um dos piores de toda a economia mundial. A situação chegou a um ponto tal que o Banco Mundial (1998) constatou que o Brasil era o segundo país com pior concentração de renda no mundo, só perdendo para Serra Leoa, e aquele em que os 10% mais ricos da população se apropriavam de maior parcela de sua renda nacional em 1998: 47,9% (Gonçalves, 1999c: 62).
Para o mesmo ano, 1998, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), calculado pelo PNUD (2000), mostrava o país na 74a posição, ainda que fosse a 8a economia do mundo em relação ao PIB, e a 54a em termos de renda per capita.
Em termos históricos, a grande concentração de renda acompanha a evolução do país desde a sua formação econômica e social dos tempos coloniais[17]. Mesmo em períodos de aceleração do crescimento e da industrialização essa característica esteve presente no processo de acumulação do capital no país. Nas últimas décadas, “considerando o período 1960-1990 pode-se constatar um extraordinário processo de concentração de renda no Brasil na medida em que os 10% mais ricos ganharam 9 pontos de percentagem na sua já elevada participação na renda, enquanto os 40% mais pobres perderam 0,9 pontos de percentagem. Em 1990 chegamos ao resultado extraordinário: os 10% mais ricos respondem por 48,7% da renda, enquanto os 40% mias pobres recebem 7,9% da renda nacional” (Gonçalves, 1999c: 50). A evolução da distribuição de renda no país pode ser observada através do Índice de Gini na tabela 16[18].
|
Ano |
1960 |
1970 |
1980 |
1990 |
|
Índice de Gini |
0,50 |
0,56 |
0,59 |
0,63 |
|
10+/10- |
34 |
40 |
47 |
78 |
Fonte: Benjamin et alii (1998: 197).
Com o processo de abertura externa e reformas, implementado nos anos 90, segundo suas justificativas convencionais, esse panorama deveria ser alterado, pois a estabilização e o crescimento da produtividade, incentivada principalmente pela abertura comercial, levariam a ganhos salariais substanciais, notadamente para as camadas mais pobres e com pouca qualificação.
Tabela 17 - Distribuição pessoal da renda do trabalho (Brasil – 1981/1995)
|
Grupos de renda |
1981 |
1986 |
1990 |
1992 |
1993 |
1995 |
|
1% mais rico |
12,1 |
14,0 |
13,9 |
13,1 |
15,5 |
13,4 |
|
10% mais ricos |
44,9 |
47,3 |
48,1 |
45,1 |
49,0 |
47,1 |
|
50% mais pobres |
14,5 |
13,5 |
12,0 |
14,0 |
12,9 |
13,3 |
|
10% mais pobres |
0,9 |
1,0 |
0,8 |
0,8 |
0,7 |
1,0 |
|
Índice de Gini |
0,564 |
0,584 |
0,602 |
0,575 |
0,603 |
0,592 |
Fonte: IBGE (PNAD), apud Mattos e Cardoso Jr. (1998: 809).
Do ponto de vista de distribuição pessoal da renda, a tabela 17 mostra uma aparente melhora entre 1990 e 1995, notadamente se comparados os anos de 1993 e 1995[19]. Isso se explica, basicamente, por dois fatores (Mattos e Cardoso Jr., 1998). Em um primeiro lugar, a redução do imposto inflacionário conseguida pelo Plano Real levou a um ganho em termos reais, uma vez que a menor proteção contra as perdas inflacionárias tende a se concentrar justamente nas camadas mais baixas. Em segundo lugar, teria ocorrido um efeito preços-relativos. O processo de abertura comercial provocou uma elevação da relação entre os preços de setores non tradebles (não sujeitos à concorrência externa) e os preços de tradebles (sujeitos à concorrência externa). Isso provocou uma elevação relativa da remuneração dos autônomos, frente à remuneração dos trabalhadores industriais. Dessa maneira, “o perfil do conjunto dos ocupados no mercado de trabalho nacional tende, portanto, a melhorar, pois os salários pagos aos trabalhadores empregados nesses setores industriais são mais elevados, em média, do que os rendimentos dos prestadores de serviços pessoais” (Mattos e Cardoso Jr., 1998: 815).
Do ponto de vista da pobreza, a tabela 18 apresenta a proporção de pobres sobre o total da população, e também permitiria uma avaliação positiva, com maior ênfase para o período 1993-1995. De fato, assim como para a distribuição pessoal da renda, isso ocorreu pelos ganhos com a estabilização e o efeito preços-relativos, além do período ter apresentado uma boa safra agrícola, com impactos positivos sobre o preço de bens básicos.
Tabela 18 - Proporção de Pobres, Grandes Regiões e Brasil, 1992-98
(em % do total da população)
|
Região |
1992 |
1993 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
Sudeste |
24,25 |
24,74 |
15,82* |
16,48 |
16,75 |
15,9 |
|
Norte |
54,03 |
52,44 |
42,54* |
41,68 |
41,8 |
41,74 |
|
Centro-Oeste |
25,14 |
22,41 |
16,23 |
16,56 |
14,81 |
13,93 |
|
Sul |
17,29 |
14,84 |
11,3* |
11,02 |
10,17 |
10,6 |
|
Nordeste |
44,58 |
45,37 |
31,43* |
33,29 |
31,97 |
28,85 |
|
Brasil |
30,22 |
30,01 |
20,71* |
21,75* |
20,96* |
19,94* |
*Variação significativa, ao nível de 5% de significância em relação ao ano anterior.
Fonte: Gomes e Neder (2000: 11-12).
Por esses dados, a conclusão pareceria respaldar as análises que propagandeiam a estratégia de abertura como forma de obter impactos distributivos positivos.
Contudo, várias considerações devem ser feitas a respeito de conclusões aparentes e apressadas como essa. Em primeiro lugar, no que se refere à distribuição pessoal da renda, as razões para a melhora efêmera provocada pelo Plano Real se esgotaram. Tanto a redução do imposto inflacionário como o efeito preços-relativos, derivado da abertura comercial, têm um impacto do tipo once and for all, que não permite uma mudança na trajetória estrutural do perfil distributivo. De fato, o índice de Gini voltou a crescer (gráfico 15), atingindo um valor igual a 0,609 em 2000, patamar semelhante ao de 1990 (0,62).
Quanto à pobreza, “os dados relativos a 1996 e 1997 permitem verificar que o patamar de incidência de pobreza no Brasil, reduzido drasticamente com a estabilização, mantém-se praticamente inalterado desde então” (Rocha, 2000: 09). Além disso, através do cálculo do hiato de renda, Gomes e Neder (2000: 14) mostram que a renda média dos pobres equivalia, em 1998, a apenas 55% do valor da linha de pobreza, enquanto que em 1995 (pós-Real) esse valor superava levemente os 54%. Dessa maneira, os fatores que levaram à redução da proporção de pobres na metade dos anos 90 estariam esgotados e, mesmo assim, a renda média dos pobres, em termos do valor da linha de pobreza, não parece ter sofrido os efeitos da estabilização[20].
Outros indicadores permitem retirar conclusões ainda mais precisas sobre a questão distributiva nos anos 90.
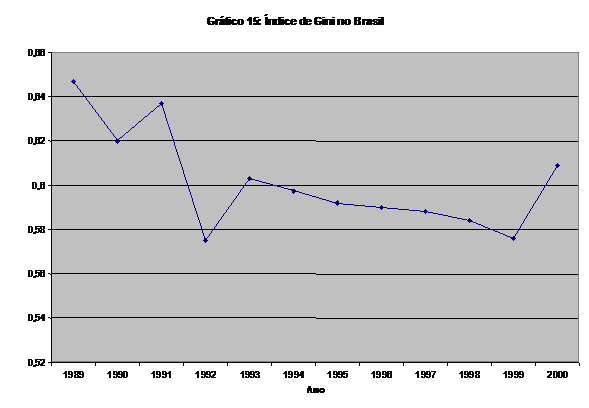
Fonte: IBGE.
A tabela 19 mostra a distribuição de renda por grupos socio-ocupacionais, comparando 1992 e 1998. A principal vantagem deste tipo de enfoque é que ele permite captar mais acuradamente as variações nos extremos da sociedade em casos de grande concentração de renda, ao contrário do índice de Gini, justamente por levar em conta a estrutura ocupacional da população.
Pelos dados apresentados, a primeira camada foi a única dentre as quatro que obteve crescimento real da renda, uma vez que manteve sua participação no total da população, e aumentou sua participação no total da renda de 41,1% para 45,1% entre 1992 e 1998. Observando a proporção entre a participação no total da renda e na população total, essa primeira camada saiu de um fator 2,7 em 1992 para 2,9 em 1998.
A segunda camada, por sua vez, apresentou um pequeno acréscimo na participação da renda total, mas este foi acompanhado por um crescimento proporcional na sua participação no total da população. Isso fez com que o fator que relaciona as duas participações permanecesse relativamente estável em 1,17.
Tabela 19 - Distribuição de renda por grupos socio-ocupacionais, 1992/1998.
|
Camadas \ Ano |
% no total da população |
% no total da renda |
||
|
1992 |
1998 |
1992 |
1998 |
|
Primeira Camada |
15,2 |
15,3 |
41,1 |
45,1 |
|
Proprietários empregadores Profissionais empregadores Profissionais autônomos – camada superior Alta classe média assalariada Profissionais autônomos – camada média Sem ocupação |
5,8 0,2 0,5 6,9 0,7 1,1 |
5,5 0,4 0,7 6,7 0,6 1,4 |
14,4 0,9 2,2 18,7 1,3 3,6 |
15,5 2 3,4 18,3 1,1 4,8 |
Segunda Camada |
14,5 |
15,6 |
17,1 |
18 |
|
Média classe média assalariada Trabalhadores autônomos – camada superior Trabalhadores autônomos – camada inferior Proprietários por conta própria – urbanos Sem ocupação |
6,4 1,8 0,5 4,7 1,1 |
7 2,6 0,7 4,5 0,8 |
8,5 2,1 0,5 5 1 |
9,3 2,7 0,7 4,6 0,7 |
Terceira Camada |
44,6 |
44,8 |
33,4 |
30 |
|
Operários e assalariados populares – camada superior Baixa classe média assalariada Ignorados (sem informação de ocupação) Trabalhadores autônomos – camada média Operários e assalariados populares – camada média Trabalhadores não-remunerados* |
10,7 12 0,2 6,8 12,5 - |
9,5 11,7 0,1 7,8 12,7 0,3 |
9,5 11,9 0,1 4 6,7 - |
7,6 10,3 0,1 4,4 6,1 0,2 |
|
Trabalhadores autônomos – camada inferior Sem ocupação |
1,3 1,1 |
0,8 1,9 |
0,7 0,5 |
0,4 0,9 |
Quarta Camada |
25,7 |
24,3 |
8,4 |
6,9 |
|
Autoconstrução – não ocupados** Trabalhadores autônomos – camada baixa Operários e assalariados populares Trabalhadores domésticos Assalariados rurais permanentes Autoconsumo – não ocupados*** Proprietários por conta própria – rurais Assalariados rurais temporários Trabalhadores não remunerados* Trabalhadores autônomos rurais Ocupados com autoconsumo**** Sem ocupação |
0,1 0,5 2,3 2,8 4,2 0,7 10,1 2,1 0,3 0,5 0,2 1,9 |
0,1 0,6 2,8 3,3 3,2 0,6 8,0 2 - 0,5 0,4 2,8 |
0 0,2 0,8 1 1,3 0,4 3,6 0,5 0,1 0,2 0,1 0,2 |
0 0,2 0,9 1,2 0,9 0,2 2,4 0,5 - 0,1 0,1 0,3 |
*grupo residual, em termos familiares, encontra-se na quarta camada em 1992 e na terceira em 1998. Auxiliam seus familiares em empreendimentos por conta própria, sem remuneração regular, tanto no setor rural como no urbano.
**Trabalhadores que se declararam não-ocupados na semana de referência, mas que estiveram ocupados com construção própria ou reformas.
***Trabalhadores que se declararam não-ocupados na semana de referência, mas que estiveram ocupados com produção para seu próprio consumo.
****Ocupados com a produção para seu próprio consumo.
Fonte: IBGE, elaborada pelo Prof. Waldir Quadros (Unicamp), publicado em Folha de São Paulo, 07/10/2001.
Por outro lado, a terceira e quarta camadas apresentaram uma redução absoluta e real de renda. Para a terceira, a queda na participação sobre a renda foi algo próximo de 3,4 pontos percentuais, ao mesmo tempo em que a participação sobre o total da população passou de 44,6% para 44,8% entre 1992 e 1998. Isso fez com que o fator participação na renda / participação na população caísse de 0,75 para 0,67 no período. A quarta camada, por último, até teve sua participação no total da população reduzido, mas em proporção insuficiente para compensar a queda na participação sobre a renda total. Com isso, o fator que relaciona as participações sobre renda e população para a camada mais pobre da população caiu de 0,32 em 1992 para 0,29 em 1998.
Essa forma de tratamento dos dados, com base na estrutura ocupacional, é inequívoca na conclusão de que a década de 90 produziu uma maior concentração de renda nas camadas mais ricas da população, principalmente porque o desemprego e a informalidade crescentes ao longo da década atingiram basicamente as camadas mais pobres da população, fenômeno não captado pelo tradicional índice de Gini.
Tabela 20 - Distribuição Funcional da Renda , 1994-1999 (% do PIB)
|
Discriminação |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
|
Excedente Operacional Bruto1 |
38,4 |
40,3 |
41,0 |
42,8 |
42,3 |
41,4 |
|
Remuneração dos empregados |
40,1 |
38,3 |
38,5 |
37,5 |
38,2 |
37,5 |
|
Salários |
(32,0) |
(29,6) |
(28,8) |
(27,8) |
(27,5) |
(26,5) |
|
Rendimento de autônomos |
5,7 |
5,9 |
5,7 |
5,6 |
5,5 |
5,1 |
Impostos líquidos de subsídios |
15,8 |
15,6 |
14,8 |
14,2 |
13,9 |
16,0 |
1-inclui lucros, aluguéis e juros.
Fonte: IBGE e Gonçalves e Pomar (2002: 68).
Uma outra maneira de constatar os impactos distributivos da década sobre a distribuição é analisar a distribuição funcional da renda, como apresentado na tabela 20. Por essas informações, observa-se que a participação do excedente operacional bruto no PIB (soma de lucros, aluguéis e juros) é crescente no período 1994-1999, ao mesmo tempo em que a parcela referente a remunerações, especificamente a salários, apresenta tendência inversa. Se comparadas com o início da década, essas participações no PIB denotam uma tendência ainda mais clara. O excedente operacional bruto representava 33% do PIB em 1990, chegando a 41,4% nove anos depois. Por sua vez, as remunerações caíram de 45% do PIB para 37,5% no período 1990-1999.
Todavia, analisando a composição desse excedente operacional bruto, as conclusões são ainda mais interessantes. A tabela 21 apresenta a evolução dos rendimentos do trabalho e do capital, dividindo este entre lucros e juros.
|
Discriminação |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
Média 1995-2000* |
Trabalhador |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Rendimento médio do pessoal ocupado1 |
100,4 |
106,7 |
118,0 |
126,7 |
129,3 |
128,7 |
121,6 |
3,4 |
|
- Massa de salários reais2 |
92,5 |
98,4 |
105,5 |
101,6 |
102,9 |
102,0 |
94,8 |
0,5 |
|
- Total de horas pagas2 |
100,5 |
100,2 |
90,7 |
86,3 |
80,0 |
75,3 |
76,5 |
-4,4 |
Capitalista, lucro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Rentabilidade do patrimônio das 500 maiores empresas (%) |
10,7 |
6,1 |
5,0 |
4,8 |
4,2 |
-2,7 |
7,3 |
4,1 |
Rentista, juro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Rentabilidade real anual dos títulos públicos (%) |
24,2 |
33,4 |
16,5 |
16,1 |
26,6 |
4,7 |
7,0 |
17,4 |
|
- Rentabilidade anual do patrimônio dos maiores bancos privados nacionais |
13,7 |
12,2 |
14,6 |
13,8 |
18,7 |
20,8 |
13,8 |
15,7 |
*média aritmética das taxas anuais de crescimento.
1-índice IBGE, julho 1994 = 100.
2-índice FIESP, junho 1994 = 100.
Fontes: Conjuntura Econômica, agosto de 2001; Exame, Melhores e Maiores, 2001 e Andima, Retrospectiva, diversos anos, apud Gonçalves e Pomar (2002: 68).
As maiores rentabilidades ligadas a lucros e juros, frente à evolução do rendimento do trabalho só confirmam a trajetória da distribuição funcional da renda. Entretanto, a brutal diferença entre a rentabilidade financeira, seja dos títulos públicos ou do patrimônio bancário, e a rentabilidade do capital produtivo evidenciam a crescente participação dos rendimentos financeiros dentro do excedente operacional bruto ao longo da década de 90.
De fato, entre 1994 e 2000, as 30 maiores instituições financeiras do país já acumulavam mais de R$ 21 bilhões em lucros líquidos[21], representando um crescimento de 313,5% comparando 1994 e 2000 (tabela 22).
A abertura financeira, com o conseqüente aumento das remunerações financeiras, em detrimento de rentabilidades operacionais, tendo em vista as altas taxas de juros ao longo de toda a década de 90, foi o fator preponderante nessa alteração do perfil da distribuição da renda funcional na economia brasileira. Dentre todos os efeitos da manutenção de altas taxas de juros por longo tempo, tem-se que estas “são incompatíveis com qualquer desconcentração de renda. O excedente como um todo, incluindo os lucros, precisa ser muito alto, o que conduz a uma divisão da renda nacional ainda mais perversa, com um avanço feroz do capital sobre os rendimentos do trabalho” (Benjamin et alii, 1998: 41).
Tabela 22 - Lucro Líquido dos Bancos (em R$ milhões) 1994-2000.
|
Bancos1 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
Evolução 94-00 em % |
|
1- Itaú |
320,1 |
373,7 |
593,4 |
720,4 |
1300,9 |
1995,5 |
1830,3 |
471,68 |
|
2- Bradesco |
445,7 |
540,1 |
824,5 |
830,5 |
1012,4 |
1104,8 |
1740,1 |
290,42 |
|
7- ABN – Amro |
29 |
78,8 |
87,7 |
120,4 |
-102,8 |
142,3 |
257,43 |
788,25 |
|
11 – Citibank |
46,3 |
27,1 |
104,8 |
124,1 |
103,3 |
458,9 |
202,3 |
336,73 |
|
13 – Bank Boston |
27,6 |
42,1 |
45,6 |
74,9 |
108,2 |
175,5 |
185,21 |
569,29 |
|
14 – Banco JPM |
2,5 |
3,3 |
7,0 |
21,9 |
101,3 |
240,08 |
147,27 |
5684,3 |
|
17– JP Morgan (Chase) |
24,4 |
18,2 |
74,9 |
15,2 |
71,09 |
429,17 |
114,2 |
366,87 |
|
25 – Lloyds TSB |
1,6 |
-23,3 |
-10,8 |
-14,9 |
6,63 |
54,73 |
75,56 |
4640,2 |
|
27-Bank of America |
1,9 |
3,2 |
22,0 |
28,2 |
33,91 |
190,27 |
63,3 |
3213,6 |
|
Total2 |
2172 |
-2006 |
-4603 |
3926 |
3607 |
8993 |
8982 |
313,5 |
1-o número corresponde ao ranking entre as maiores 30 instituições financeiras por ordem decrescente de lucro líquido em 2000.
2-30 maiores instituições financeiras.
Fonte: Austin Asis, publicado em O Globo 21/11/2001.
|
Ano |
Crédito |
Operações de Tesouraria (juros, dólar e investimentos no exterior) |
|
1990 |
44,57 |
24,02 |
|
1991 |
77,05 |
8,74 |
|
1992 |
59,1 |
39,08 |
|
1993 |
34,08 |
31,16 |
|
1994 |
40,79 |
28,77 |
|
1995 |
62,19 |
27,88 |
|
1996 |
53,27 |
38,33 |
|
1997 |
51,43 |
38,36 |
|
1998 |
40,30 |
48,20 |
|
1999 |
46,80 |
42,94 |
|
2000 |
42,52 |
39,39 |
|
2001 |
42,93 |
42,42 |
Fonte: Austin Asis, em reportagem de O Globo de 11/08/2001.
Os altos juros domésticos, a especulação cambial, incluindo aqui a crescente oferta de títulos públicos com cobertura cambial, e a facilidade de movimentação de capitais explicam não apenas o brutal crescimento dos lucros do setor bancário na década de 90, mas também a alteração de sua composição. A tabela 23 evidencia a modificação desta composição, com o crescimento dos lucros por operações de tesouraria (juros, dólar e investimentos no exterior).
A tudo isto deve-se somar os fenômenos da desnacionalização e concentração bancária, como visto anteriormente, e o fato de que as empresas de intermediação financeira apresentaram a maior concentração de receita declarada ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) em 1999[22]. Essas empresas representaram 0,3% dos contribuintes do setor financeiro e tiveram uma receita cerca de 17% do total declarado no período nesse setor. A receita média no setor chegou a um equivalente de R$ 28,8 milhões. Por outro lado, 13,5% das indústrias concentravam nesse ano 40% das receitas declaradas no setor industrial.
Enquanto o excedente operacional bruto, notadamente a renda financeira, foi beneficiado na década de 90[23], o mercado de trabalho não parece possuir o mesmo papel central dentro do projeto implementado nos anos 90.
Entre os anos 1940 e 1980, o mercado de trabalho brasileiro apresentou claros sinais de estruturação em torno do emprego assalariado regular (urbano)[24]. Nesse período, assistiu-se a uma redução da participação relativa das ocupações sem registro, sem remuneração e por conta-própria, ao mesmo tempo em que ocorreu uma crescente formalização de parcelas da população economicamente ativa (PEA) e redução das taxas de desemprego (tabela 24).
A partir de 1980, ocorreu uma inflexão na tendência de estruturação do mercado de trabalho brasileiro. Apesar de uma política macroeconômica agressiva de geração de elevados superávits comerciais, como forma de atender ao pagamento do serviço da dívida externa, manteve-se o nível de assalariamento da PEA em torno dos 62% entre 1980 e 1991. Entretanto, a composição dos empregados com registro e sem registro entre os assalariados sofreu significativa alteração. Os empregados com registro passaram de 49,2% em 1980 para 36,6% em 1991, enquanto os empregados sem registro dobraram a sua participação entre os assalariados: de 13,6% para 26% entre 1980 e 1991. Ainda nesse período, o indicador de precarização (total dos sem remuneração, sem registro e desempregados, como proporção da PEA) passou de 25,6% para 35,6%.
Tabela 24 - Evolução da População Economicamente Ativa, da condição de ocupação e do desemprego
|
ITENS |
1940 |
1980 |
1989 |
1991 |
1995** |
1999 |
|
PEA (mil) |
15.751,0 (100%) |
43.235,7 (100%) |
62.513,2 (100%) |
58.456,2 (100%) |
70.750,5 (100%) |
79.315,3 (100%) |
|
Empregador |
2,3% |
3,1% |
4,2% |
3,9% |
3,9% |
3,7% |
|
Conta própria |
29,8% |
22,1% |
21,2% |
23,9% |
22,4% |
20,9% |
|
Sem remuneração |
19,6% |
9,2% |
7,6% |
5,4% |
9,0% |
12,6% |
|
Assalariado |
42,0% |
62,8% |
64,0% |
62,6% |
58,2% |
53,2% |
|
- Com registro |
12,1% |
49,2% |
38,3% |
36,6% |
30,9% |
26,5% |
|
- Sem registro |
29,9% |
13,6% |
25,7% |
26,0% |
27,3% |
26,7% |
|
Desempregado |
6,3% |
2,8% |
3,0% |
4,2% |
6,4% |
9,6% |
|
Indicador de precarização* |
55,8% |
25,6% |
36,3% |
35,6% |
42,7% |
48,9% |
* O indicador de precarização é composto pela soma de “Sem remuneração”, “Sem registro” e “Desempregado”. Optou-se por não incluir os “Conta própria” no indicador, pois neste item estão incluídas categorias que não caracterizam emprego precário. Problema semelhante ocorre com o item “Sem registro”, mas optou-se por incluí-lo no indicador porque considera-se que a participação de formas precárias de emprego é majoritária.
** Exclui o conjunto de pessoas não remuneradas com menos de 15 horas semanais de trabalho e os ocupados pelo autoconsumo.
Fonte: IBGE, Censos Demográficos e Estatísticas Históricas do Brasil, MTb, apud Pochmann (1999: 74).
Nos anos 90 os sinais de desestruturação do mercado de trabalho tornaram-se ainda mais evidentes. Observa-se nessa década um movimento de desassalariamento, provocado fundamentalmente pela eliminação dos empregos com registro, que representavam 38,3% da PEA ao final da década de 80 e chegam a 26,5% em 1999. Chama a atenção também a forte elevação do indicador de precarização, que passa de 35,6% da PEA em 1991 para 42,7% em 1995, e 48,9% em 1999. Deve-se notar que, embora todos os componentes do indicador tenham contribuído para a sua elevação, o item desempregado o fez em maior proporção.
Desassalariamento, precarização e desemprego parecem ter sido as palavras de ordem na implantação do projeto neoliberal para o mercado de trabalho no Brasil dos anos 90. Comparando-se o perfil do desemprego, entre 1989 e 1996, outras características importantes vêm a tona (tabela 25).
Pelos dados da tabela 25, conclui-se que o desemprego cresceu mais para: (i) pessoas com mais de 11 anos de escolaridade[25]; (ii) pessoas com idade mais avançada (mais de 40 anos), para os homens; (iii) não-chefes de família (cônjuges); (iv) negros; e (v) pessoas que buscam o primeiro emprego (Pochmann, 1999: 104).
Não bastasse isso, as pressões por maior desregulamentação do mercado de trabalho brasileiro persistem.
Com tudo isso, pode-se afirmar que o perfil distributivo da economia brasileira foi agravado na década de 90, por conta do processo de abertura externa, intensificado pela sobrevalorização cambial entre 1994-1999 e pelas altas taxas de juros, que provocaram o crescimento do excedente operacional bruto, especificamente dos rendimentos financeiros, e a redução da participação salarial na renda nacional. Além disso, os fenômenos da informalização e do desemprego que caracterizaram o mercado de trabalho na década de 90 também contribuíram para elevar a concentração de renda no país.
Estes resultados não deveriam ser surpreendentes. As constatações de que os processos de abertura externa na América Latina, ao invés de redistribuírem renda, levaram a uma exacerbação de sua concentração, já são tematizadas até pelos defensores desses processos. Em recente e amplo estudo Slaughter (2000: 01) afirma : “the central message here is that many developing countries have recently seen income inequality rise, not fall, subsequent to trade and FDI [foreign direct investment] liberalization”.
Estudos menos isentos também constatam a situação: “las cifras indican que hoy en día, efectivamente, la desigualdad de América Latina en su conjunto es la más alta del mundo, que la desigualdad empeoró en los años ochenta y que no ha mejorado en los noventa. La opinión pública de la región a este respecto parece ser, entonces, bastante acertada” (Londoño e Székely, 1998: 196)[26].
Tabela 25 - Perfil do Desemprego, 1989 e 1996 (em %)
|
|
1989 |
1996 |
Tipo de desemprego |
|
|
|
Total Aberto Oculto - Precário - Desalento |
6,7 5,0 1,7 1,1 0,6 |
14,2 9,2 5,0 3,7 1,3 |
Idade |
|
|
|
10 a 14 anos 15 a 17 anos 18 a 24 anos 25 a 39 anos mais de 40 anos |
25,3 15,8 9,0 5,3 2,8 |
40,3 39,8 19,7 11,1 8,0 |
Cor |
|
|
|
Branca Não Branca |
6,1 8,1 |
12,5 16,4 |
Sexo |
|
|
|
Homem Mulher |
5,7 8,3 |
12,6 16,4 |
Posição na família |
|
|
|
Chefe Cônjuge Filho Outros |
1,7 1,6 7,4 4,3 |
3,4 3,8 10,0 7,3 |
Escolaridade |
|
|
|
menos de 5 anos 5 a 8 anos 9 a11 anos mais de 11 anos |
2,9 4,9 4,5 1,8 |
4,2 7,3 6,6 2,9 |
|
Experiência profissional anterior |
|
|
|
Reemprego Primeiro emprego |
5,8 1,0 |
11,3 2,0 |
Tempo de procura de trabalho |
|
|
|
Desemprego total Desemprego aberto Desemprego oculto |
15 semanas 13 semanas 17 semanas |
22 semanas 18 semanas 29 semanas |
Fonte: Fundação Seade, Dieese e FIBGE, apud Pochmann (1999: 105).
Mesmo com esse reconhecimento, várias “justificativas” são apresentadas para isentar as reformas neoliberais de qualquer responsabilidade na concentração de renda nos países que as implementaram. A principal delas pode ser assim resumida:
“Deve ser enfatizado que não estamos argumentando que a distribuição de renda na América Latina não piorou nas últimas duas décadas. Os dados são claros neste ponto. Argumentamos, contudo, que somente com mais tempo o impacto de longo prazo das próprias políticas de liberalização, sem os efeitos das políticas de estabilização ou dos impactos transicionais, serão mensuráveis...” (Baer e Maloney, 1997: 58).
A partir disso, estudos como os do BID (1998a e 1998b) continuam reafirmando políticas trabalhistas convencionais (flexibilização e desregulamentação das normas trabalhistas) e políticas sociais compensatórias, aliadas de uma “pseudo-teoria” do capital humano, que defende o investimento em educação como forma de gerar empregos e reduzir desigualdades[27].
Três observações a respeito desse argumento são imediatas: (i) de fato, considera-se o processo de estabilização como algo externo ao programa de reformas, quando se trata de avaliar os resultados, quando na verdade o primeiro é defendido como pré-condição para o segundo, no discurso teórico-ideológico; (ii) os dados, que expressam o resultado de uma década, e deveriam ser fundamentais justamente para avaliar esse resultado, não parecem ser muito importantes, ao menos não enquanto neguem o discurso ideológico[28]; e (iii) se é tudo uma questão de tempo, de quanto tempo as reformas precisarão para fornecer as decantadas benesses distributivas? Será que seus teóricos e ideólogos nos esclarecerão a respeito e anunciarão a sua chegada? Até lá, aceitando a inocente crença de que exista esse tempo, propõe-se o aprofundamento das reformas!
4.2.1- Distribuição de riqueza: um exercício de estimação
Além do efeito direto que o processo de abertura e as reformas exercem sobre a distribuição de renda, ocorre ainda um efeito indireto. O processo de abertura externa, principalmente a liberalização financeira, incluindo o efeito da abertura ao investimento direto estrangeiro, tende a provocar uma concentração de riqueza, fornecendo um caráter mais rígido/estrutural à crescente concentração de renda, o que remete à questão da propriedade dos ativos. Confirmando-se essa tendência, pode-se fazer duas afirmações. Em primeiro lugar, o aumento da concentração de riqueza torna a já elevada concentração de renda cada vez mais estrutural/rígida, ao concentrar a propriedade dos ativos. Em segundo lugar, essa maior concentração de riqueza relega um papel cada vez mais inócuo ou, na melhor das hipóteses, meramente paliativo, às políticas sociais tradicionais de compensação, justamente por causa do primeiro aspecto ressaltado.
A importância da concentração de propriedade de ativos em nada fornece qualquer seriedade à “teoria” do capital humano, única forma como a ideologia hegemônica tangencia a temática sobre a concentração de riqueza. De acordo com esse argumento, a causa fundamental da concentração de renda e dos baixos salários vigentes no mercado de trabalho é a baixa produtividade dos trabalhadores, determinada pelo baixo estoque de capital humano que lhes é característico.
Não bastasse a curiosa “conceituação” que pretende apagar a distinção entre capital e trabalho, pela simples consideração de que trabalhadores seriam capitalistas de si mesmos, o argumento incorre na clássica falácia da composição. O máximo que aumento de capital humano é capaz de produzir é a elevação de competitividade de um indivíduo em relação a outro, dadas as vagas no mercado de trabalho. Aplicar esta lógica ao conjunto dos indivíduos significa imaginar que o aumento do estoque de capital humano do conjunto de trabalhadores seria suficiente para aumentar o número de vagas. Afora a questão maior e mais importante de que a educação se justifica por razões relacionadas à cidadania e humanidade, o que se pode obter em termos de emprego, no máximo, é a proliferação de instruídos desempregados, uma vez que a demanda por trabalho tem outros determinantes. O que está implícito na “teoria” do capital humano é a sua tentativa de imputar a “culpa” pela exclusão social e pela pobreza à própria vítima. O trabalhador, supostamente, não racionalizaria corretamente a importância da educação; mais uma falha de mercado.
O processo concentrador da propriedade na história do Brasil passa, por um lado, pela forma de organização latifundiária da propriedade da terra, e, por outro, por uma industrialização/urbanização caracterizada pela concentração da propriedade dos meios de produção nos grandes grupos privados nacionais e internacionais (Gonçalves, 1999c: 54)[29]. Na última década de 90, em específico, a distribuição de riqueza foi muito influenciada pelos efeitos da liberalização financeira que, com as altas taxas de juros, valorização dos ativos financeiros, e com o amplo processo de fusões/aquisições e privatizações, provocou um crescimento da concentração de riqueza no país.
Gonçalves (1990) estimou o estoque total de riqueza no país em US$ 1.219 bilhões para 1989. Para tanto, o autor dividiu o estoque de ativos em quatro grandes classes: ativos físicos, ativos financeiros, patrimônio líquido de empresas privadas e bens de consumo duráveis. Dentro dos ativos físicos, o autor atualizou o valor total de terras fornecido pelo Censo Agropecuário de 1980, através do deflator do dólar norte-americano (50% para o período entre 1980 e 1989), chegando a um total de US$ 271 bilhões. No que se refere aos imóveis rurais (imóveis, veículos e instalações), o valor de US$ 205 bilhões também foi obtido pela atualização dos dados do Censo Agropecuário de 1980 (US$ 105,4 bilhões), considerando o deflator do dólar norte-americano e a taxa de crescimento do estoque de bens rurais, suposta como equivalente à taxa de crescimento do produto real do setor agropecuário (29,6% entre 1980 e 1989). Para os imóveis urbanos, multiplicou-se o número de domicílios particulares permanentes na área urbana, fornecido pela PNAD (24,4 milhões) pelo valor médio de imóveis urbanos no final de 1989 (US$ 15 mil).
Os ativos financeiros, por sua vez, podem ser divididos em monetários (papel moeda em poder do público e depósitos a vista) e não-monetários (depósitos em poupança, depósitos a prazo, títulos do governo federal em poder do público, e outros). O Banco Central do Brasil, em 31/12/1989, informava um total de US$ 9 bilhões para a primeira sub-classe e US$ 119 bilhões para a segunda.
No tocante ao patrimônio líquido das empresas privadas, Gonçalves (1990: 23) estimou o patrimônio líquido das empresas não-financeiras a partir do valor anunciado pela revista Quem é Quem na Economia Brasileira (1989) para as 7.991 grandes e médias empresas do setor, supondo que estas respondiam por 50% do valor total, e adicionou o patrimônio líquido das empresas financeiras, chegando a US$ 201 bilhões para esta classe de ativo em 1989. Finalmente, para o estoque de bens de consumo duráveis, Gonçalves (1990: 23) supôs que estes correspondiam a 5% do estoque de ativos físicos e financeiros, baseado em informações para a Grã-Bretanha em 1966, segundo Atkinson (1972: 07).
A estimativa de Gonçalves (1990) para a participação dos 1% mais ricos na propriedade do valor de cada ativo baseou-se em outras informações contidas em estudos anteriores, como Atkinson (1972), Lampman (1959) e Suplicy (1989), além de suposições próprias elaboradas pelo próprio autor. Essa participação, tanto em termos percentuais, como em bilhões de dólares americanos, encontra-se na tabela 26.
Tabela 26 - Distribuição de Riqueza, Brasil (1989)
|
Ativos |
Total (US$ bilhões) |
1% mais ricos (US$ bilhões) |
1% mais ricos (%) |
Ativos físicos-Terras - Imóveis rurais - Imóveis urbanos |
841 271 205 365 |
391 170 129 92 |
46,5 62,7 62,9 25,2 |
Ativos Financeiros- Moeda1 - Depósitos2 - Títulos federais - Outros |
128 9 45 62 12 |
77 3 19 44 11 |
60,2 33,3 42,2 72,0 90,0 |
|
Patrimônio líquido de empresas privadas |
201 |
171 |
85,1 |
|
Bens de consumo duráveis |
49 |
8 |
16,3 |
Total |
1.219 |
647 |
53,07 |
1-inclui papel-moeda em poder do público e depósitos a vista.
2-depósitos em poupança e a prazo.
Fonte: Gonçalves (1990: 32).
Segundo o exercício estimativo do autor, observa-se que os 1% mais ricos possuíam, em 1989, 46,5% do valor dos ativos físicos (US$ 391 bilhões), 60,2% dos ativos financeiros (US$ 77 bilhões), 85,1% do patrimônio líquido de empresas privadas (US$ 171 bilhões) e 16,3% do valor dos bens de consumo duráveis (US$ 8 bilhões). Em termos totais os 1% mais ricos possuíam US$ 647 bilhões, 53,07% do total de ativos no Brasil em 1989.
Considerando todas as dificuldades inerentes a uma estimativa inicial de alguma variável que não é normalmente trabalhada, como foi o caso de Gonçalves (1990), o que se pretende agora sofre de uma dificuldade adicional. Não bastasse a escassez/insuficiência de informações para estimar o valor dos ativos físicos e o patrimônio líquido de empresas privadas, a tentativa de estimação da distribuição de riqueza no Brasil para 1999, atualizando o estudo de Gonçalves (1990), depara-se com a dificuldade adicional de saber a participação dos 1% mais ricos na propriedade de cada ativo específico para o ano de 1999. Optou-se aqui por manter os supostos feitos pelo autor para 1989, de forma que as modificações na distribuição de riqueza em 1999, de acordo com o exercício aqui apresentado, refletirão apenas as diferentes taxas de crescimento no valor dos ativos.
A atualização do valor de cada ativo para 1999 foi feita da seguinte maneira:
(I) Ativos físicos
- valor das terras[30] = área total cultivada (353.611.115 Ha) x preço médio das terras no segundo semestre de 1999 (R$ 1.441,96 por Ha) = R$ 509,89 bilhões / taxa de câmbio em 31/12/1999 (R$ 1,8428 por dólar) = US$ 276,69 bilhões.
- imóveis rurais = valor em 1989 (US$ 205 bilhões) x taxa de crescimento do produto real do setor agropecuário 1990-99 (32,9%)[31] x [ 1 + (deflator do dólar americano no período (33,4%)] = US$ 363,43 bilhões.
- imóveis urbanos = número de domicílios particulares permanentes na área urbana, segundo PNAD (1999), (38, 5 milhões) x valor médio de imóveis urbanos no final de 1999[32] (US$ 17 mil) = US$ 654,5 bilhões.
(II) Ativos financeiros em 31/12/1999[33]
- monetários = papel moeda em poder do público (R$ 25,951bilhões) + depósitos a vista (R$ 36,794 bilhões) = R$ 62,745 bilhões / taxa de câmbio em 31/12/1999 (R$ 1,8428 por dólar americano) = US$ 34,048 bilhões.
- depósitos = poupança (R$ 111,407 bilhões) + a prazo (R$ 129,311 bilhões) = R$ 240,718 bilhões / taxa de câmbio em 31/12/1999 (R$ 1,8428 por dólar americano) = US$ 130,626.
- títulos do governo federal em poder do público = R$ 383,57 bilhões / taxa de câmbio em 31/12/1999 (R$ 1,8428 por dólar americano) = US$ 208,14 bilhões.
- outros = saldo dos fundos (US$ 77,68 bilhões) + ações (US$ 1,5 bilhão) + títulos privados (US$ 68,97 bilhões) + derivativos (US$ 2,37 bilhões) = US$ 150,5 bilhões.
(III) Patrimônio líquido de empresas privadas
- empresas não-financeiras[34] = US$ 236,2 bilhões.
- empresas financeiras[35] = patrimônio líquido dos fundos (R$ 233,684 bilhões) + patrimônio líquido dos bancos (R$ 256,3 bilhões) = R$ 489,98 bilhões / taxa de câmbio em 31/12/1999 (R$ 1,8428) = US$ 265,89 bilhões.
(IV) Bens de consumo duráveis = 5% (I + II) = US$ 90,89 bilhões.
Tabela 27 - Distribuição de Riqueza, Brasil (1999)
|
Ativos |
Total (US$ bilhões) |
1% mais ricos (US$ bilhões) |
1% mais ricos (%) |
Ativos físicos-Terras - Imóveis rurais - Imóveis urbanos |
1.294,62 276,69 363,43 654,5 |
567,08 173,48 228,6 165 |
43,8 62,7 62,9 25,2 |
Ativos Financeiros- Moeda1 - Depósitos2 - Títulos federais - Outros3 |
523,3 34,048 130,626 208,14 150,5 |
351,8 11,33 55,12 149,9 135,45 |
67,23 33,3 42,2 72,0 90,0 |
|
Patrimônio líquido de empresas privadas |
502,09 |
427,27 |
85,1 |
|
Bens de consumo duráveis |
90,89 |
14,81 |
16,3 |
|
Total |
2.410,9 |
1.360,96 |
56,45 |
1- inclui papel-moeda em poder do público e depósitos a vista.
2-depósitos em poupança e a prazo.
3-inclui saldo dos fundos, ações, títulos privados e derivativos.
Fonte: Agroanalysis (2000); Boletim do Banco Central; Conjuntura Econômica (2000) e Andima (2001).
As informações estão sintetizadas na tabela 27, recordando que a participação dos 1% mais ricos na propriedade de cada ativo específico é suposta igual à prevalecente em 1989. Mesmo assumindo que a concentração dentro de cada ativo não foi alterada entre 1989 e 1999, o que, obviamente, fornece ao exercício um caráter de subestimação da concentração de riqueza, é possível constatar que esta última foi acentuada nos anos 90. Se, em 1989, os 1% mais ricos possuíam 53,07% do total da riqueza no Brasil, em 1999 essa participação passou para 56,45%.
Isso ocorreu por conta, principalmente, do maior crescimento no valor dos ativos que apresentam maior concentração de propriedade: o patrimônio líquido de empresas privadas, especialmente as financeiras, e os ativos financeiros. Portanto, a liberalização e a abertura financeira parecem ter reforçado a concentração de riqueza, uma vez que propiciaram o maior crescimento dos ativos em que predomina a propriedade dos 1% mais ricos.
O que os dados da economia brasileira na década de 90 mostram é inquestionável. Além de propiciar um substancial aumento da vulnerabilidade externa da economia brasileira, o processo de abertura externa que caracterizou os anos 90 levou a uma exacerbação da concentração de renda, tanto pelos seus efeitos na distribuição funcional da renda e na estrutura ocupacional do mercado de trabalho, como pela acentuação de seu determinante mais estrutural, a concentração de riqueza. Assim, apenas para não ir além do meramente factual, comprova-se que as teses ortodoxas de defesa da abertura externa brasileira, como forma de propulsionar o crescimento e reduzir a concentração de renda, foram totalmente desmentidas.
[1] Os resultados pífios não deveriam assombrar aqueles que conhecem as experiências anteriores de abertura dos países periféricos. Mesmo desconsiderando os efeitos da liberalização financeira, Shafaeddin (1994: 01) já havia constatado esses resultados: “in fact, trade liberalization has been accompained by deindustrialization in many LDCs [least developed countries], and where export expanded it was not always accompained by the expansion of supply capacity”.
[2] “A emissão de títulos cambiais pelo Bacen, para servir de hedge ao endividamento externo privado e permitir o financiamento do desequilíbrio do balanço de pagamentos, agravou ainda mais as chamadas necessidades de financiamento do setor público” (Tavares, 1997: 108).
[3] Ainda que ele atribua isso apenas a um “erro do câmbio”, Delfim Netto (1997), com todo seu pragmatismo, constata essa característica da economia brasileira no período.
[4] O que, aparentemente, pode significar uma melhora no perfil do endividamento público brasileiro é desmistificado pela relação estreita entre dívida pública interna e dívida externa, como será visto adiante.
[5] Deve-se levar em conta a advertência de Medeiros e Serrano (2001) de que a fragilidade sinalizada pela razão entre os passivos externos de curto prazo e as reservas cambiais está mais ligada a dificuldades conjunturais de liquidez, que podem até redundar em crises cambiais, como no Brasil em janeiro de 1999, do que à inviabilidade estrutural das contas externas. Rigorosamente, a primeira apresenta-se como desdobramento conjuntural da segunda.
[6] Uma pormenorizada análise desses indicadores de vulnerabilidade com dados trimestrais é feita em Painceira e Carcanholo (2002).
[7] A importância analítica do conceito de passivo externo é dada pelo fato de que este passivo implica em saída de recursos que superam o serviço da dívida externa e, portanto, reflete com mais precisão a verdadeira transferência de renda. A importância de considerar o estoque de capital externo para estes propósitos já havia sido ressaltada pela vertente marxista da teoria da dependência nos anos 60, não surpreendentemente desconsiderada. Para isto ver Dos Santos (2000) e Marini (2000).
[8] Easterly et al. (1997) afirmam veementemente que, após analisar dados que cobrem um período extremamente restrito (até 1993), o crescimento na América Latina pós-reformas não foi decepcionante. Algum tempo depois, Easterly (2001) foi obrigado a admitir, pela força dos fatos, que tanto a década de 80 quanto a de 90 foram perdidas para os países dessa região.
[9] “Por todas as razões colocadas acima, isto é, a performance exportadora medíocre, uma alta propensão marginal a importar, um grande e crescente montante de pagamentos de lucros, dividendos e juros, a economia brasileira enfrenta um déficit crescente em conta corrente com uma taxa de crescimento do PIB reduzida e mesmo decrescente” (Serrano, 1998: 27-28).
[10] Os indicadores de vulnerabilidade, nesta seção, foram construídos com informações anualizadas por trimestre. Para maiores informações ver Painceira e Carcanholo (2002).
[11]Vale destacar que, além da trajetória estrutural de crescimento da dívida, a desvalorização cambial de 1999 acentuou a redução do PIB brasileiro em dólares, levando a um maior crescimento dos indicadores.
[12] Os dados para este indicador foram colhidos a partir do último trimestre de 1994.
[13] Os juros líquidos, por exemplo, representam 107% das reservas internacionais no primeiro trimestre de 1991, e passam a corresponder a apenas 47% no final de 2000.
[14] Para maiores detalhes sobre o PROER ver Andima (2001).
[15] “É no interior deste dilema, aí aprisionado, que se move o Governo, desde a introdução da nova moeda em julho de 1994, configurando-se a ocorrência de ciclos curtos de aceleração e desaceleração na atividade econômica” (Filgueiras, 2000: 135). Em que pese o caráter verdadeiro desta afirmação, o efeito stop and go da restrição externa não foi apenas provocado por um “erro cambial”. A inviabilidade estrutural externa e interna que caracterizou a vulnerabilidade da economia brasileira nesse período foi conseqüência de uma determinada opção de política e inserção externa de mais longo prazo.
[16] “Adicionalmente, o Programa criou a Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabeleceu critérios para o endividamento público, regras estritas para o controle dos gastos públicos e regras permanentes para limitar os déficits orçamentários, além de proibir quaisquer novos refinanciamentos, pelo governo federal, da dívida estadual e municipal” (Filgueiras, 2000: 140).
[17] “A prevalência da grande propriedade exportadora, dos ciclos produtivos regionalmente localizados e da exclusão social atrofiaram o desenvolvimento do mercado interno, que seria um fator decisivo na integração econômica do país” (Benjamin et alii, 1998: 75).
[18]O índice de Gini varia entre zero (renda distribuída de forma eqüitativa) e um (renda totalmente concentrada), conferindo maior peso à distribuição nas faixas centrais. A comparação “10+/10-”, por sua vez, mede as desigualdades nos extremos.
[19] Mesmo assim, “como a desigualdade de renda está atrelada aos altos rendimentos no extremo superior da distribuição, ganhos de rendimento na base da distribuição, como os ocorridos após o Plano Real, pouco afetam o coeficiente de Gini” (Rocha, 2000: 15).
[20] Banco Mundial (2002) estima que a parcela da população que sobrevive com o equivalente a US$ 2,00 por dia no Brasil passou de 17,4% em 1990 para 26,5% em 1998.
[21] Curiosamente, trata-se de um montante equivalente ao gasto pelo governo federal com o PROER.
[22] Isso segundo as informações do Perfil do Declarante da Pessoa Jurídica divulgado pela Receita Federal para o ano-base 1998.
[23] “Essa transferência não teve sequer o atenuante de aumentar o investimento, cuja participação no PIB caiu de 20,6% em 1990 para 16,2% em 1996. A concentração de renda operou principalmente como um mecanismo concentrador de consumo” (Benjamin et alii, 1998: 92).
[24] Uma análise mais minuciosa dos processos de estruturação (1940/70) e desestruturação (1980/90) do mercado de trabalho brasileiro pode ser encontrada em Pochmann (1999).
[25] Esta característica obriga os defensores da “teoria” do capital humano a, no mínimo, buscar alguns remendos, ainda que se demonstrem aparentemente inócuos, principalmente depois do vasto estudo da OIT (1996: 156) comprovando que “la ampliación de las oportunidades de empleo al alcance de los pobres es el modo más eficaz de reducir la pobreza y la desigualdad de ingresos”. O mesmo estudo ainda comprova que os custos não-salariais são muito baixos nos países em desenvolvimento, contrariando o argumento convencional.
[26] Mesmo assim, estes autores ainda têm a desfaçatez de afirmar que as reformas neoliberais não têm nada com isso. Ao contrário, afirmam eles, a situação seria pior sem elas. Apenas do ponto de vista metodológico, trata-se de mais um sintoma da síndrome de imunidade auto-atribuída. Como é impossível verificar a situação da região sem as conseqüências das reformas, pela simples razão objetiva de que elas foram de fato implementadas, o argumento é desmerecedor de maiores comentários.
[27] Os merecidos comentários críticos à “teoria” do capital humano (sic) serão feitos no próximo item.
[28] Triste fim para uma tradição que se pretende positivista!
[29] Para uma discussão mais pormenorizada da origem e evolução da concentração de riqueza no Brasil ver Benjamin et alii (1998).
[30] Segundo informações de Agroanalysis (2000).
[31] De acordo com o Boletim do Banco Central.
[32] Segundo a edição nº 95 da Revista Secovi-SP Indústria Imobiliária, de dezembro/99 - janeiro/00. Ver também www.secovi-sp.com.br, www.abmh.org, e www.cbic.org.br.
[33] Boletim do Banco Central, vários números, e Andima (2001).
[34] Valor obtido a partir do patrimônio líquido das maiores empresas privadas não-financeiras, segundo a revista Conjuntura Econômica (2000), em um total de R$ 217,65 bilhões, e supondo que isso correspondesse a 50% do patrimônio líquido de todas as empresas não-financeiras.
[35] Segundo Boletim do Banco Central e Andima (2001).